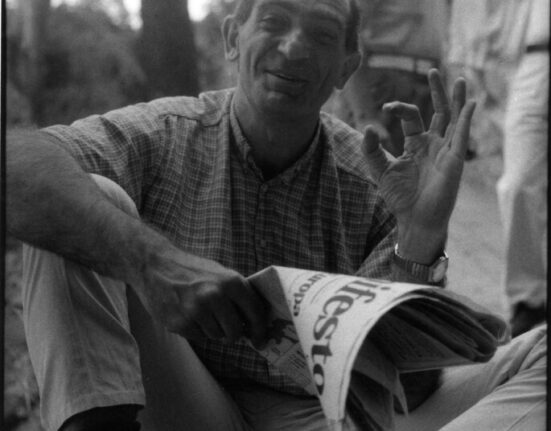Mariana Abreu Mayerhoffer
Sindia Santos
Especialmente num contexto de guerra é preciso que se reconheça a hediondez dos crimes sexuais. Se não os levarmos a sério, autorizamos a sociedade a aceitá-los e a culpar quem atravessa essa violação pela própria violência sofrida, uma violência sobre a violência. Não importa se aqui, na Ucrânia, no Egito, no Congo ou se em Kosovo. Na República Democrática do Congo, por exemplo, o estupro de mulheres é usado como arma em conflitos desde 1996. Em 2012, a cada hora, 48 mulheres ainda eram violentadas no país, segundo um estudo publicado no American Journal of Public Health. No total, 22% dos homens e 30% das mulheres do Congo haviam sido vítimas de violência sexual em ataques relacionados ao conflito (levantamento de 2010). Esses números levaram a ONU a classificar o país como a ‘capital mundial do estupro’ em um franco apelo para que o Conselho de Segurança da ONU tomasse uma atitude para interromper tal barbárie. Sabemos também que durante a Guerra de Kosovo (1999), segundo estimativa da Anistia Internacional, 20 mil pessoas teriam sido estupradas — homens também, em menor escala — por agentes de forças militares e paramilitares sérvias. Durante a Primavera Árabe, entre 2011 e 2013, quando o mundo convulsionava desejoso por mudanças, em plena Praça Tahrir, no Egito, tivemos centenas de mulheres estupradas por coletivos de homens. Somente entre os dias 28 de junho e 03 de julho de 2013, data da queda do presidente Mohammed Mursi, foram registrados mais de 200 casos de ataques sexuais, que ficaram conhecidos por Taharrush Jamai. Isso sem incluir os ataques (muitos) que não foram registrados, afirmou à BBC Mundo, Diana Eltahawy, investigadora da Anistia Internacional no Cairo.
Poucas mulheres falam abertamente sobre a violência sexual que sofreram, seja num cenário de guerra, seja no cotidiano de suas vidas. Mas quase todas compartilham a injustiça de não ver os culpados responsabilizados. E esse silenciamento, presente nas mulheres em quaisquer partes do mundo, é um silenciamento também autoinfligido, forjado, em parte, pela cultura do machismo e do patriarcado, que imputa à vítima a responsabilização pelo crime. Na verdade, ao falar em vítima, nos referindo aqueles que tiveram a intimidade e corpo devassados, e mesmo assim, não se renderam a esta condição, ao invés, lutaram pela construção de inúmeras possibilidades singulares de atravessamento deste momento. Porque atravessar essa marca implica numa força que a maioria das pessoas não imagina ter *e realmente não a tem, até ter. Importa dizer que esse atravessamento pode acontecer ou não. Que a capacidade de se dar um passo além de um sofrimento tão inominável quanto o estupro advém certamente de condições singulares de existência, de uma certa relação com o campo da cultura que permita ultrapassar o empuxo do silenciamento e da autoculpabilização – que é auto e hétero ao mesmo tempo. Essa qualidade de relação de construção da força que se pode vir a ter, está presente tanto no ato de denunciar quanto no ato de não vestir a carapuça da culpa. Atualmente, na guerra da Rússia contra a Ucrânia, rasgou-se o véu da vergonha de culpabilizar o outro pelo crime sofrido. A invasão do território, – que numa certa relação metafórica não se indiferencia da invasão dos corpos das mulheres ucranianas – é justificada porque o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o apoio da população, teria “cutucado Putin com a saia curta”. Aliás, em termos lógicos, não colar no discurso de se reconhecer culpado (como ucraniano) pelo crime que sofrido é a condição para atravessar a marca de ter sido invadido. E nisso temos um exemplo de resistência do povo ucraniano.
Essa leitura da violência sexual, que aqui aparece aliada à possibilidade de se resistir ao silenciamento demandado pela sociedade em geral, é apenas o pólo mais grave de uma violência que se inscreve como autorizada pelo status quo social, que pode ser percebido, por exemplo, nas sutilezas dos primeiros sinais de uma relação abusiva, aparentemente menos nociva, mas que sabemos ser a ponta de uma escala que termina frequentemente em feminicídio – senão no assassinato mesmo da mulher, pelo menos numa “morte emocional” da qual será preciso muitas desconstruções e reconstruções para ressuscitar. Violência doméstica, violência pública, silenciar é tão somente perpetuar, como sociedade, o modus operandi “machão” dos modelos de dominação, seja do corpo de uma mulher, seja de um país sobre o outro.
Estas violações, — que numa guerra ultrapassam a lógica do conflito armado, — tem em comum com a banalização do estupro no cotidiano, uma determinada assinatura do poder: extrema vulnerabilidade da mulher aliada à autorização da violência e ao silêncio. Silencio que algumas vezes é quebrado de maneira muito inesperados, como aconteceu em 2016, com o pastor carioca Hermes Carvalho Fernandes, que também é teólogo e doutor em Ciências da Religião. Transcrevemos o post onde ele acusa seus “irmãos” evangélicos por acobertarem o caso do estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos. O crime aconteceu na Comunidade do Barão, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Decidimos não editar o post, como modo de reconhecer, primeiro, o grau da violência sofrida, e segundo, a re-existência e força das mulheres que atravessam tal ataque. Que não se busque nuances de leveza numa situação tão grave:
“O que dizer do estupro coletivo de uma adolescente perpetrado por mais de 30 homens em pleno século XXI na cidade escolhida para sediar os Jogos Olímpicos? Os criminosos fizeram fotos e vídeos dela no chão, com a vagina e o ânus sangrando enquanto eles gargalhavam, e ainda tiveram a ousadia de publicarem no Twitter! Onde estão os defensores da moral e dos bons costumes? Por que se calam os que esbravejam pela família tradicional? E ainda têm coragem de combater qualquer política que vise proteger a mulher, bem como os homossexuais deste tipo de desumanidade! Quão hipócritas somos! Não merecemos ser chamados de cristãos! Somos cúmplices deste estupro! Conquanto nos calamos, consentindo vergonhosamente com o crime. Se ainda fosse um silêncio reverente ante a dor… mas, não! É o silêncio de quem não está nem aí, e com a maior cara de pau, sai às ruas em suas “marchas para Je$U$”, celebrando nossa estupidez, apatia e falta de amor. A menina tinha apenas 16 aninhos! Foi dopada e estuprada por homens desprovidos de qualquer senso de humanidade. Se sua dor não for a nossa, então, teremos tomado parte desta monstruosidade. Que Deus tenha compaixão dela e de todos nós.”
Em depoimento, a adolescente contou à polícia que tinha ido até a casa do namorado, com quem se relacionava havia três anos. Que se lembrava de estarem a sós e então de acordar no dia seguinte, dopada e nua, em uma outra casa na mesma comunidade, com 33 homens armados à sua volta. O tal vídeo postado pelos próprios agressores nas redes sociais viralizou, dando ao caso repercussão internacional às vésperas da Rio 2016. Ao final das investigações, a Polícia Civil indiciou sete envolvidos no caso. Apenas três foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público e somente dois foram condenados, um permanece foragido.
O pastor Hermes recebeu inúmeras críticas nas redes sociais por apontar que mesmo dentro do rigor moral difundido pelo setor evangélico, — cujos seguidores se indignam com o beijo consentido entre dois adultos do mesmo sexo em comerciais de televisão, — a cultura do estupro está presente. A mesma que diminui a mulher e a torna mero objeto, ou um ser de segunda classe. “A cultura do estupro é um efeito colateral extremado do machismo vigente em nossa sociedade”, respondeu ele às críticas na ocasião.
Assim como o pastor Hermes, não podemos nos silenciar. É horrível falar de estupro. Um ato tão vil. Na Tahrir foi igualmente horrível, com o agravante de que, embora amplamente divulgado, pouco se debateu sobre o tema, que trazia em seu cerne força para deslegitimar os protestos. Foi preciso que uma jornalista americana, Lara Logan, da CBS, sofresse os ataques em 2011, para que o crime Taharrush Jamai fosse relatado na mídia ocidental.
O mesmo acontece na Ucrânia nesse exato momento. Horas antes do país ser invadido por tropas russas, soldados passaram a dar match em ucranianas no Tinder, aplicativo que consegue localizar onde o usuário está para lhe oferecer encontros com as pessoas mais próximas. A denúncia foi feita por uma produtora de video, moradora de Kiev chamada Dasha Sinelnikova, 33 anos. No final de fevereiro o jornal britânico The Sun noticiou que mulheres ucranianas, residentes em Kharkiv, a segunda cidade mais importante da Ucrânia, “ficaram chocadas” com o aparecimento de “um conjunto de admiradores de uniforme” no Tinder. Dezenas de perfis com soldados russos a aproximadamente 32 km da cidade. Dasha teria mudado sua localização a fim de confirmar a denúncia de uma amiga sobre a presença em peso das tropas russas no aplicativo. O que seria uma ameaça por parte dos soldados russos, foi ridicularizado publicamente por essas mulheres no tabloide inglês. Um modo de se defender, de lutar. Tão importante quanto os coquetéis molotovs que professoras, advogadas e donas de casa, agachadas na grama do quintal, preparavam para se defender dos invasores.
Não demorou muito para surgir as primeiras notícias de casos de estupro. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, fez a seguinte denuncia no dia 05 de março: “Quando as bombas caem em nossas cidades, quando soldados estupram mulheres em cidades ocupadas – e temos inúmeros casos de estupros, infelizmente – é difícil falar em aplicação de leis internacionais”. Kuleba participava de um debate na Chatham House de Londres. O tema do encontro foi a criação de um tribunal de crime especial para tratar da crise na Ucrânia. Embora o Ministro não tenha apresentado evidências para sua alegação, no mesmo dia em que deu essa declaração, uma moradora da cidade de Kherson (Ucrânia), controlada pela Rússia, disse a CNN que as tropas de ocupação “já começaram a estuprar nossas mulheres”. Svetlana Zorina de 27 anos, permanecia com sua avó na cidade portuária do Mar Negro, onde cerca de 290.000 pessoas haviam sido capturadas na quarta-feira, dia 03 de março. Zorina também contou que pessoas que ela conhecia pessoalmente, relatavam sobre o estupro seguido de morte de uma garota de 17 anos. “… aconteceu com ela e então eles a mataram”, disse ela ao apresentador John Berman. Essas alegações até agora não foram verificadas de forma independente, Reuter e outras empresas de comunicação encontram dificuldade em entrar na Ucrânia. Mas a denúncia encontra eco na fala de Kuleba.
É impensável deixar as mulheres que sofrem ataques sexuais sozinhas. A linha que divide a invasão de um território e a invasão de seus corpos é muito tênue. Brancas, negras, europeias ou africanas, deixá-las sozinhas num estado de guerra, é nós abandonarmos e nos abstermos da luta por uma sociedade onde a mulher seja mais do que uma arma de desestabilização em períodos de guerra. E em nome (pasmem!) da defesa de Putin e da condenação dos EUA, silenciamos enquanto mulheres são mortas e estupradas num massacre que nos acende a memória o horror da segunda guerra mundial. Décadas após o término da loucura liderada por Hitler, o mundo se perguntava, como deixamos chegar nesse ponto? Quando a cor da pele de alguém, sua nacionalidade ou sua preferência sexual se torna motivo para que um massacre ocorra, pouca coisa nos resta. Hermes, o evangélico, teve coragem de denunciar o silêncio dos cristãos hipócritas. Que a coragem dele nos contagie a ponto de não nos serenarmos como cúmplices desses crimes, porque calar é consentir com o estupro.