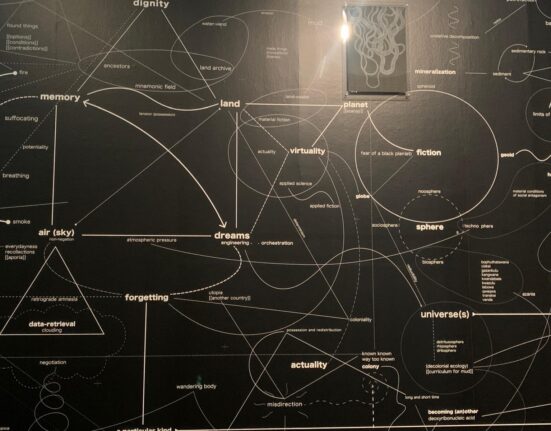Por Ariel Pennisi | No Tiempo Argentino, 23/11/2022 | Trad. Coletivo UniNômade de Tradutores
Por uma cabeça, por um fio de cabelo ou pedaço do ombro, não importa… A partida entre Argentina e Arábia Saudita, para além do nosso desânimo e do burburinho de nossos rivais ocasionais, expôs o Video Assistant Referee (VAR) em toda a sua magnitude. A tecnologia, como sabemos, não se resolve simplesmente na introdução de funções ou melhorias, sejam elas úteis ou lúdicas, na vida das sociedades. A tecnologia também participa de dispositivos complexos que, de maneiras diferentes, em função do caso e do momento histórico, agregam práticas, leis, discursos, interesses econômicos e políticos, tendendo a orientar percepções e comportamentos. Deste modo, a introdução do VAR no futebol ou no basquete, bem como de seu correspondente no tênis (o Hawk-Eye), não escapam desta circunstância. Não foram poucos os que viveram com prazer o pênalti favorável à seleção argentina, cobrado, exatamente, após consulta de um árbitro ao outro, do humano ao robô.
A International Football Association Board (IFAB), que se define como “Guardiães das leis do jogo”, publicou na sua página um protocolo explicativo dos princípios e regras que regem o novo dispositivo. Ele nos esclarece: “o VAR pode auxiliar o árbitro apenas em caso de erro claro, óbvio e manifesto ou incidente inadvertido grave”, em relação a gols, cartões vermelhos, pênaltis ou confusões quanto à identidade de jogador expulso ou advertido. Porém, na partida que nós sofremos como torcedores, o sentimento foi outro. Sentimos que sucedia um tipo de aliança entre a atuação do VAR e a linha de impedimento, formando a principal tática do time rival. Não se tratava de algo premeditado, de um esquema, mas de uma espécie de parentesco, de uma correlação operativa no nível do funcionamento. É verdade que o VAR interveio pelo motivo que três daqueles “impedimentos” terminaram em gols para a Argentina. Porém, quando ficou evidente como o impedimento era marcado do ponto de vista da máquina, passamos a assistir a um tipo de desagregação dos corpos: já não era mais o jogador que, quando o passe parte de seu companheiro, se encontra atrás do último rival, mas apenas um braço, um ombro, um pé… uma cabeça. A diferença não é de grau – como, aliás, sucede com tudo o que acontece no interior da lógica digital –, mas qualitativa, como ocorre, não raro, com os organismos vivos. Daí o nosso problema.
A sexta regra do protocolo do VAR diz: “Não há limite de tempo para o procedimento de revisão da jogada, pois a precisão é mais importante que a velocidade”. O que eles chamam de “precisão” é nada mais do que a conversão em cálculo digital de todo um compósito físico, sensível, cultural e histórico, tal qual o futebol ou qualquer outro jogo que detenha os seus próprios rituais, conflitos e margens de erro. Em paralelo, é desmerecida a “velocidade”, ou seja, o ritmo dos grupos, a continuidade orgânica e os solavancos, ou seja, é desvalorizada a experiência de tempo que engloba também a nossa, nós que vivenciamos o que o futebol propicia na qualidade de torcedores. Por sinal, esse parece ser um ponto valorizado, já que somente cinco regras depois, se pode ler no mesmo protocolo: “O período que pode ser revisto antes e depois de um incidente é determinado pelas Regras do jogo e pelo Protocolo do VAR”. Mais tempo é igual a mais faturamento?
Não nos é estranha a velha discussão em torno, primeiro, da profissionalização do futebol e, a seguir, da sua completa mercantilização. Apesar disso, ainda que o problema do VAR faça parte dessa mesma história, há uma outra discussão envolvida mais importante. Os promotores desta primeira fase de digitalização do futebol em que estamos (e não há como negar que estejamos apenas no início) fazem-no em nome da “precisão”, isto é, de uma verdade produzida tecnicamente. Não se trata mais do antigo discurso do “progresso” e seus valores, em nome do que, historicamente, genocídios foram causados, contingentes de pessoas foram escravizadas, massas de trabalhadores foram submetidas e o atual ecocídio foi viabilizado, mas da pura e dura performance. Só que agora, a performance aparece já sem qualquer mística, sem qualquer discurso de ordem ou progresso. A tecnicização digital implica medições de todos os tipos – uso cotidiano de satélites, substituição de imagens, comunicações, entre outras possibilidades – para adquirir uma autonomia que excede, em força e velocidade, as possibilidades de os grupos humanos (desde países até as comunidades) virem até mesmo a questionarem-se sobre as formas de uso, regulamentos ou pontos de vista éticos. O que chamamos de “tecnologia”, ante a qual não paramos de fingir uma surpresa ingênua, já participa de uma hibridização que é sentida como lúdica, coquete, irrefletida. Será que é por essa razão que, submissivamente, aceitamos o VAR? Os narradores dos jogos mostram um caro respeito diante da verdade técnica, em que creem como o mais religioso dos cristãos… ou dos muçulmanos que nos conquistaram com a fé da alma e a fé digitalizada.
Não há tecnofobia nem resgate da velha discussão sobre profissionalização e mercantilização que sejam suficientes, porque o que estamos presenciando é outra coisa. Trata-se de umbrais da técnica que se autonomizam e se impõem ora como mandamento (“porque se pode, se deve”), ora como fato consumado, tendendo a colonizar os comportamentos, ritmos e formas de experimentar. Um filósofo alemão, no começo da década de 1940, assinalava que a obsessão por marcar recordes nos esportes não passava de uma forma de expressão a mais do empuxo da técnica sobre a vida: a matriz técnica substitui as matrizes perceptivas, as formas de raciocinar e agir. Profetizava Ernst Jünger: “a técnica e o ethos viraram sinônimos”. A longevidade do filósofo lhe permitiu testemunhar na televisão o fetichismo do cálculo que os principais espetáculos esportivos exibiam antes de chegarmos à condição da atual patologia. Naquela época apenas insinuada como possibilidade, hoje se encontra desdobrada em toda a sua obscenidade, a cada contagem de metros percorridos por um jogador ou de finalizações ao gol, e assim por diante. O descontentamento de Riquelme quando tais tecnologias são aplicadas pelos treinadores não é somente uma questão de estilo, ou melhor dizendo, o estilo não é coisa de pouca monta, pois nele se abriga o incalculável.
Miguel Benasayag, pesquisador argentino exilado na França durante a ditadura, pensador versátil que há vinte anos trabalha entre o laboratório e a clínica social, elaborou uma hipótese sobre a colonização técnica do vivente hoje. O cérebro humano estaria necessitado de ratificação pela inteligência artificial, pois esta denunciaria naquele uma fragilidade inerente, um “déficit” dado pelo grau de imprevisibilidade e pela fragilidade excessiva com que funciona. Os avanços tecnocientíficos seriam assim justificados em face da necessidade de incremento dos coeficientes intelectuais, até que seja alcançado o nível adequado às exigências do nosso tempo, em suma, para gerar corpos eficientes. Estudando, em particular, os efeitos da digitalização no cérebro (mas não só), Benasayag enxerga um ponto de quebra, a partir do que corpos, culturas, rituais, ecossistemas, ou seja, os viventes em todas as suas formas, não vão mais conseguir metabolizar a infraestrutura tecnológica – esta mesma que vai dos computadores, que insistimos em chamar de “telefones celulares”, à biomedicina com a sua farmacologia smart, passando pelo intenso uso de algoritmos de modelagem de comportamentos. A antevisão de Benasayag não nasce de uma rejeição à hibridação que, de fato, ele considera irreversível, mas sim do diagnóstico da “promiscuidade” entre organismos e artefatos técnicos, conduzindo ao esmagamento dos primeiros pelos últimos. A ideologia do progresso técnico é destarte secundada por uma metafísica tecnocientífica que, uma vez levada às últimas consequências, termina por tornar os corpos dispensáveis.
Para pensar esse drama contemporâneo, Benasayag nos apresenta o caso da competição de Go (antigo jogo de tabuleiro chinês), ocorrida em outubro de 2016, que opôs o último campeão (humano) a um programa desenvolvido pelo Google, chamado Alpha Go. Benasayag participou do evento no papel de observador científico. Ao passo que a vitória acontecida da máquina empolgava os promotores da inteligência artificial, Benasayag alertava que a máquina no fundo não havia vencido porque, na verdade, nunca tinha nem mesmo começado a jogar. O programa tão somente replicava os comportamentos de seu rival, por meio da leitura de seus microcomportamentos segundo cálculos automáticos, em alta velocidade, até encurralá-lo. Mas isto não pode ser considerado jogar, que significa explorar possíveis, supõe uma espécie de “não saber” estrutural, inclusive ao realizar movimentos no limiar das regras e entregar-se aos imprevistos… pelo menos, é assim que funciona no mundo dos viventes. Reducionismo fisicalista, positivismo abstruso, simplificação dos processos vitais que englobam dimensões que fazem emergir o sentido. Colonização tecnocientífica do vital.
O jornalista esportivo Cherquis Bialo, na noite anterior ao jogo entre Argentina e Arábia Saudita, disse: “O VAR é uma parte da corrupção do futebol que confere uma legitimidade em abstrato, ou seja, pode legitimar o que ninguém viu”. O ápice do VAR reside na crença na transparência técnica, regulada pelo grupo de vigaristas encastelados numa associação corrupta como a FIFA. Tal é o ponto que chegamos na crença na técnica. A oitava regra do protocolo VAR convida a aceitar uma pantomima infantil: “O árbitro deve permanecer visível durante todo o processo de revisão, de modo a assegurar a transparência”. Mas o que, no jogo da Argentina na última terça-feira, nós realmente experimentamos absortos (e esquentados, digamos assim) não teve nada a ver com verdade e transparência, mas com a redução das dimensões vitais – a margem de erro, a possibilidade de astúcia, a apropriação singular das regras e inclusive a trapaça – a meros excessos, alheios ao que hoje se define “precisão”. Precisão digital (vamos dizer assim). O comentário de Cherquis Bialo continuava da seguinte maneira: “E agora, para lidar com os resultados, esses caras do Catar, junto com os da FIFA que a venderam para os capitais árabes, inventaram o impedimento semiautomático (…) um desenho, nem foto é (…) eles vão matar o futebol”.
O impedimento cobrado dessa maneira se parece mais com um “fora de jogo” [NT. off-side] que deixa fora o próprio jogo. O VAR é um mecanismo que joga fora o bebê com a água suja da banheira. No tênis, há jogadores que se destacam por seus saques potentes. O saque, também chamado “serviço”, abre o jogo, o serve. Porém, quando a eficiência tende a ser total, dá-se o contrário, não há mais jogo, mas somente o saque que, em lugar de servir ao jogo, torna-o servo dele. O tênis se transforma assim numa dinâmica insuportável. Claro que servir não pode significar entregar-se (como ocorre com jogadores muito fracos nesse fundamento), mas que o rival também possa jogar. Ainda que não se possa transladar linearmente o caso do saque no tênis ao do impedimento no futebol, se pode pressentir aí a consequência catastrófica de uma lógica de funcionamento. Com a colonização técnica, ela nos exclui junto de nossos “erros” e excedências, nossos instantes de dúvida e astúcias, como o bebê com a água suja.
Numa lógica plena de desempenho, o erro deve ser eliminado. Mas no mundo dos organismos e ecossistemas complexos, no qual o humano existe em relação a outros viventes e paisagens, o erro participa de uma dinâmica de experimentação. O duplo sentido e a melhor conhecedora das regras, que é a trapaça, também participam desse processo. O jogo, uma das principais dimensões de nossa condição bioantropológica, tem sua própria aptidão de incorporar o fora, de voltar-se ao fora e modificar-se a si próprio dinamicamente com ele. Não por progresso, mas por variação. E muda de uma maneira entremeada, impura, como tudo o que se passa no mundo aberto à beleza e ao horror, de que o futebol, mesmo com todas as suas misérias, nunca deixou de participar. A tendência que acompanha o aparecimento do VAR no jogo é de coreografias robotizadas, jogadores que se deixam modelar, técnicos que mais se parecem com engenheiros e treinadores que não poucas vezes são engenheiros de origem e concitam a uma adaptabilidade sem fim, no compasso do ruído de fundo desta época.
A verdade do VAR é estúpida na medida em que deixa de fora a relação indeterminada entre o sentido e o sem sentido, a pergunta angustiada e a alegria do inexplicável, justo essa que o árbitro interrompe quando, desenhando um quadrado imaginário no ar, anula o gol já comemorado. O árbitro acredita que está voltando no tempo, mas como isso não é possível, o que ele está fazendo não é voltar, mas acrescer frustração e vazio para frente, até que o próprio sentido do jogo se esgote. Chegado nesse ponto, como num tango, poderíamos perguntar-nos que importa perdermos “mil vezes a vida”, se ela nos esquece, a mão de Deus.
—
Ariel Pennisi é ensaísta, docente e investigador (UNPAZ, UNA), codiretor da Rede Editorial, integrante do Instituto de Estudos e Formação da CTA A, autor de “Nuevas instituciones (del común)”, entre outros, coautor de “El anarca (filosofia e política em Max Stirner)”, organizador e autor de “Linchamientos. A policía que llevamos dentro” e “Renta básica. Nuevos posibles del común.”