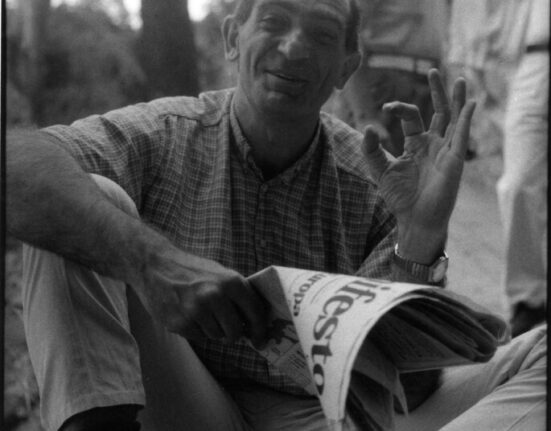Rede Universidade Nômade – Brasil – 19 de novembro de 2025
A violência no Brasil é difusa e endêmica. Seus números são monstruosos: os policiais brasileiros matam mais do que os policiais de 15 países do G20 somados. Mas a violência não se limita à inversão mais extrema da sua proibição bíblica (“não matarás!”). Assaltos, ferimentos, barricadas, torturas e desaparecimentos marcam a ferro e fogo os territórios subjugados onde vive e é humilhada a esmagadora maioria do proletariado metropolitano.
No Rio de Janeiro, essa violência se manifesta ao longo de muitas linhas: desde os comandos do narcotráfico até a contravenção, passando pelas milícias – sem esquecer o sem-número de delinquentes autônomos que assaltam ônibus e transeuntes ao léu. A violência tampouco se limita às suas formas explícitas. Os moradores de favelas e bairros contíguos onde o tráfico local decide tocar música sem limites de decibéis ou hora não têm a quem recorrer para cobrar um direito fundamental: o sono, quer dizer a própria base da aprendizagem.
O crime organizado recorta e domina os territórios e os mercados. Recortes que são negociados com base na corrupção ou por meio de verdadeiras batalhas. Um rosário de chacinas e atrocidades marca a via crucis da vida metropolitana no Brasil e em boa parte da América Latina. Não por acaso, as atuais eleições chilenas têm sido marcadas pela centralidade do debate sobre o combate ao crime organizado que avança pari passu ao recrudescimento da extrema-direita.
A operação de 28 de outubro de 2025 nos complexos da Penha e do Alemão quebrou todos os recordes: com 121 mortos oficiais, conseguiu ultrapassar a marca macabra dos 111 mortos do Carandiru (1992). Grande parte da matança aconteceu em uma mata com um nome paradoxal, pois não houve misericórdia na Serra da Misericórdia.
Em 2010, nessas mesmas favelas e nessa mesma mata, havia acontecido uma “operação” que se pretendia definitiva. Mas, seja como farsa ou como tragédia, a história se repete, e com ela, o retorno da retórica, mesmo que maquiada, da solução final. Nesse caso, toda promessa de “acabar de vez” com o crime reativa, sob novas formas, o mesmo impulso de purificação que atravessou o século XX: o sonho de exterminar o “mal absoluto” pela eliminação física de um “inimigo” interno. Paradoxalmente, essa retórica tende a se reproduzir quanto mais se proclama a erradicação desse “mal”, perpetuando o ciclo da violência que se diz querer eliminar e tornando a solução final interminável.
Na operação de 2010, era o início da pacificação, com participação do Exército e seus blindados. Naquela ocasião, “apenas” 19 pessoas foram mortas. Quando os narcotraficantes fugiam para a serra, o helicóptero da Polícia, que os alvejava, ficou constrangido de que as mortes passassem ao vivo, transmitidas pelo helicóptero de uma TV. No dia 28 de outubro de 2025, não havia helicópteros e as câmaras corporais policiais ficaram, convenientemente, sem bateria ou simplesmente não foram incorporadas.
A vigilância é uma realidade de geometria variável. Uma aporia de opacidade atravessa a batalha das narrativas que se formam em torno do massacre. De um lado, a polícia desliga as câmeras para sustentar sua narrativa na ausência de imagens das facadas, das execuções brutais e decapitações que a incriminariam, fazendo do não ver uma forma de comando sobre a narrativa. De outro, os corpos chacinados dos jovens — muitos deles resgatados da mata pela ação coletiva dos próprios moradores e familiares, o que dá um toque ainda mais macabro à operação — são expostos seminus, propondo uma contra-visibilidade que força o olhar público para aquilo que se tentou deixar fora de campo de visão.
Enquanto alguns se chocam, outros se regozijam, e a popularidade do Governo Castro parece aumentar. Mais 10 operações estão agendadas, anuncia o Governador. Ao mesmo tempo, as roupas camufladas apreendidas — não importa aqui se por decisão do tráfico, por dinâmicas internas da própria comunidade ou pelas circunstâncias da brutalidade da operação — expõem também uma tentativa de manipular a visibilidade para melhor adequá-la à batalha das narrativas sobre a segurança, que passa pelo destino daqueles corpos brutalizados e de muitos outros.
A presença das forças do tráfico impõe aos moradores uma vigilância difusa e uma espécie de censura tácita: não é possível criticar abertamente, nem tensionar sua própria administração territorial sem colocar suas vidas imediatamente em risco. De todo modo, tanto as forças da polícia e do Estado, quanto as do tráfico, administram essa opacidade-visibilidade, cada um à sua maneira. Nos dois casos, o que se vê é construído pela opacidade produzida, e o que não se vê é construído pelo que se pretende dizer.
Colocando o Rio na rota de um porta-aviões
Os governadores bolsonaristas se juntaram ao governador do Rio em um irônico Consórcio da Paz. O líder da oposição no Senado teorizou no Globo a oposição entre 8 de janeiro (a tentativa de golpe bolsonarista) e o 28 de outubro. O cardápio sangrento da segurança serve a mesa de figuras como Eduardo Cunha, Arthur Lyra e Guilherme Derrite. A lei de combate ao crime organizado desorganiza a Polícia Federal. Enquanto isso, o crime organizado brasileiro já não opera em isolamento. A violência carioca já está inscrita em um tabuleiro latino-americano: articulam-se os comandos colombianos, bolivianos, paraguaios.
Assim, se comparamos o 28 de outubro último com a ocupação de 2010, podemos identificar três novidades: a primeira é que a matança – que nunca parou – foi multiplicada por seis; a segunda é que, se em 2010 a narrativa era aquela da pacificação e do desarmamento, dessa vez impõe-se aquela da “guerra ao narcoterrorismo”; a terceira, enfim, é que a operação pretende contribuir com os esforços muito patrióticos de colocar o Rio de Janeiro na rota de um porta-aviões trumpista e de seus mísseis teleguiados.
Diante dessa escalada, a polarização organizou a opinião pública em duas grandes posições, relativamente consolidadas e radicalizadas. Por um lado, os que aprovam a mortandade das operações e querem mais. Esses retomam com força e violência o velho mote: os direitos humanos servem, na realidade, como “direitos de bandidos”. Por outro, há os que desaprovam, embora com base em uma série de nuances que podemos listar de maneira não-exaustiva: “a operação não resolve nada”, “os verdadeiros traficantes não estão nas favelas”, “é preciso usar a inteligência”, “o crime está na Faria Lima e na estrutura da finança” etc. Na realidade, as duas posições que estão hoje nos polos opostos lidam de maneira problemática com a questão do respeito aos direitos humanos. Entre os que são a favor da matança, os direitos humanos são mera hipocrisia que funciona como um empecilho à decisão soberana de usar a mão de ferro contra o “tráfico”. Já entre os que são (justamente) contra o massacre, os direitos humanos também acabam aparecendo manchados pela hipocrisia, como se a verdadeira questão se resumisse à opressão dita “estrutural”, entre um oprimido e um opressor claramente definidos e essencializados.
Corrupto bom…
Em 2013, nas manifestações que seguiram às grandes jornadas de junho no Rio de Janeiro, havia um grupo de ativistas do grupo Anonymous que arvorava uma faixa onde estava escrito “Corrupto bom é corrupto morto”. Embora preso a uma linguagem de “morte”, o desvio da palavra de ordem dominante não poderia ter sido mais adequado.
O “poder” no Brasil, e ainda mais no Rio, não funciona por separações nítidas. Ao contrário, ele se modula em todas as direções e os mesmos que rezam pela repressão mais sangrenta operam no ventre mole onde circulam as entranhas daquilo que é chamado de “crime organizado”.
As investigações sobre o assassinato de Marielle Franco o explicitam bem. Se os assassinos são ontologicamente bolsonaristas, os que são acusados de serem os mandantes são politicamente governistas. Quando foi preso, Chiquinho Brazão era secretário especial de Ação Comunitária (sic) no governo Eduardo Paes e deputado federal depois de anos como vereador; seu irmão, Domingos Brazão, foi deputado estadual por várias legislaturas, propôs a lei estadual que proibiu o uso de máscaras em manifestações, e embora preso ainda integra o Tribunal de Contas do Estado; o delegado Rivaldo Barbosa foi chefe da Polícia Civil. O próprio governador do Rio está sendo processado pelo TSE por abuso de poder econômico no momento de sua reeleição.
No dia em que foi preso o dono do falido Banco Master, ficou claro que o governo da chamada “operação final” havia jogado R$ 2,6 bilhões do fundo de aposentadoria dos servidores estaduais (o Rioprevidência) em fundos desse banco (e isso apesar dos alertas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro). Esses 2,6 bi não estão cobertos pelo Fundo Garantidor do Crédito. Simultaneamente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro autorizou o uso de royalties que deveriam alimentar a Rioprevidência para pagar dívidas do Estado. Não há, portanto, uma guerra contra o crime, mas de uma contenda entre diferentes formas de crime que se entrecruzam. E tudo isso para não falar da privatização da Cedae.
Do mesmo modo, as linhas entre legalidade e ilegalidade, entre o Estado e o crime, entre o moralismo da ordem, o governo da guerra e da paz e o cálculo miliciano da corrupção, estão, no Rio de Janeiro, definitivamente embaralhadas. Nos dias posteriores à chacina, as manifestações contra a violência policial e o massacre nas favelas só ocorreram na Penha, sob a presença ostensiva das forças que controlam, de modos distintos, o dentro e o fora da comunidade.
Entre o inimigo e o oprimido: a resignação
O que produz esse emaranhado de relações de poder e opressão, moduladas pela corrupção como modo de funcionamento do sistema político, é a mais profunda resignação, quer dizer, a descrença com relação à possibilidade de mudar alguma coisa.
Isso se traduz, por exemplo, no fato que, nas favelas e, em geral, nos territórios explicitamente dominados por alguma organização criminosa, os moradores têm de respeitar uma única lei: aquela do silêncio, inclusive quando a música do proibidão toca sem parar e sem respeitar o sono de ninguém. Em geral, o silêncio corresponde a pagar calado e em dia as diversas taxas em relação ao gás, à internet e mesmo à “segurança”.
O movimento de junho de 2013 havia aberto uma brecha democrática: na Presidente Vargas ou na Rio Branco, podia-se falar aquilo que nos territórios é vetado e, sobretudo, podia-se romper a resignação contra a perpetuação da desigualdade urbana, social e econômica. É tristemente irônico lembrar que o caixão do movimento foi pregado a partir de um episódio, quando um rojão lançado por jovens manifestantes acabou atingindo o cinegrafista Santiago Andrade. Um acidente terrível foi instrumentalizado pela imprensa e pelo sistema político para que o debate político voltasse à sua rotina, aquela das chacinas e de seu uso pessoal político.
Hoje, na condição dessa rotina infernal, a polarização oferece duas soluções: ambas parecem opostas, mas constituem, na realidade, as duas faces de uma mesma moeda falsa. A primeira se organiza em torno da inimizade: o poder é aquele que decide quem é o amigo e quem é o inimigo. A segunda, podemos dizer, organiza a política como denúncia da opressão e se estrutura na oposição maniqueísta entre os oprimidos e o opressor. Essa disputa funciona como uma nuvem de fumaça que desvia o foco da ausência de políticas substantivas de renda, moradia, cultura, saúde e cidade para além dos grandes projetos especulativos e das dicotomias clássicas morro/ asfalto, legal/ ilegal.
Assim, as duas narrativas oferecem soluções ilusórias à frustração coletiva. Quanto mais a situação da segurança é complexa, maior a sensação de impotência e a proposta de cada uma das narrativas encontrará escuta e aprovação. Como dissemos, no fundo, as duas narrativas são simetricamente falsas. A primeira, oferece uma visão totalmente maniqueísta da figura do inimigo; a segunda, explica tudo como sendo o fruto de engrenagens como a de um “racismo estrutural” e de uma “violência institucional”: “a elite branca matando o povo preto”. Os pobres e os pretos morrem e continuam morrendo, mas não apenas por razões ideológicas ou atalhos cognitivos (o “racismo estrutural”) – e, sim, em função das estratégias e da dinâmica efetiva de circulação de poder, vida e morte. Sinal disso é que, por um lado, os “soldados” do narcotráfico mortos no dia 28 de outubro já foram substituídos, cooptados entre os jovens sem melhores perspectivas e sem horizontes. Por outro, a figura do oprimido não dá conta de uma realidade que é marcada por muitas opressões, que se distribuem inclusive entre os próprios oprimidos. No caso da violência urbana, são pelo menos três: aquela do Estado e da polícia, aquela dos narcotraficantes (e das milícias) e aquela do assalto difuso.
A política da inimizade e a do oprimido são, portanto, as duas faces de uma mesma moeda falsa, ainda que nem sempre equivalentes. No acaso das apostas, uma das faces pode cair de maneira a recolher a confiança de importantes setores da opinião pública. É o caso do 28 de outubro. Sem se importar com a amplificação da barbárie, a aposta da extrema direita (fluminense e nacional) é a de oferecer – pela própria decisão da letalidade – a sensação de uma “clareza”, uma definição nítida do inimigo cujo extermínio se traduziria em uma melhoria geral. Como não ver nesse gozo pela letalidade em grande escala o espectro da “solução final” que destruirá o “inimigo”? A resposta do outro polo, nessa situação, também é falha, e isso por pelo menos duas razões: em primeiro lugar, embora pretenda igualmente oferecer uma solução clara (opressor versus oprimido), ela não tem como decidir, não possui o poder da decisão, portanto, é reativa; em segundo lugar, posicionando o problema numa metafísica da “estrutura social”, não consegue responder nem à insegurança difusa e cotidiana, nem àquela que reina nas próprias favelas e bairros periféricos.
O Brasil está preso em uma série de quebra-cabeças.
Chegamos a definir o Brasil como compondo o enigma do disforme. Muitos economistas falam de “armadilha da renda média”. Outros indicam o peso da desigualdade. Outros mais continuam culpando a taxa de juros e o Consenso de Washington. Sociólogos e antropólogos apontam o racismo. Os historiadores lembram a herança de séculos de escravidão e patrimonialismo. Os estamentos de origem ibérica ainda fazem com que o poder tenha “donos”. Para muitos, o problema estaria no arrocho monetário e nos níveis dos juros reais. Para outros, ao contrário, a charada estaria na dívida pública. Enquanto isso, de emenda e em emenda, o ventre mole governa em nome dos seus próprios interesses, fazendo desse próprio enigma seu dispositivo privilegiado. O único enigma que poderia estar à altura do primeiro é, portanto, manter aberta a brecha que as narrativas bipolares pretendem fechar: como construir a partir desse enigma dispositivos radicalmente democráticos?
A solução para um enigma nunca é resolvê-lo permanentemente, mas conseguir levá-lo mais além de si mesmo – mudar seus termos, seu ritmo, sua prosódia e seu sentido. É precisamente isso que as respostas bipolares impedem ao oferecerem uma soluação pronta e dual: ou bem nos banhamos com sangue, ou bem mergulhamos em culpa infinitas. Tertium non datur.
Junho de 2013 foi a parte afirmativa que emergiu, como turbilhão, do próprio enigma-Brasil, o momento em que as lutas buscaram cunhar uma moeda democrática e em que o disforme produziu, ainda que brevemente, um corpo político dos pobres. O desafio, hoje, é reencontrar maneiras de refazer essa passagem, levar a constituição formal dos direitos para além da defesa reativa e moral, para uma constituição material capaz de criá-los: na mobilidade metropolitana, no trabalho, na moradia, no transporte, na cultura, na saúde e na renda.