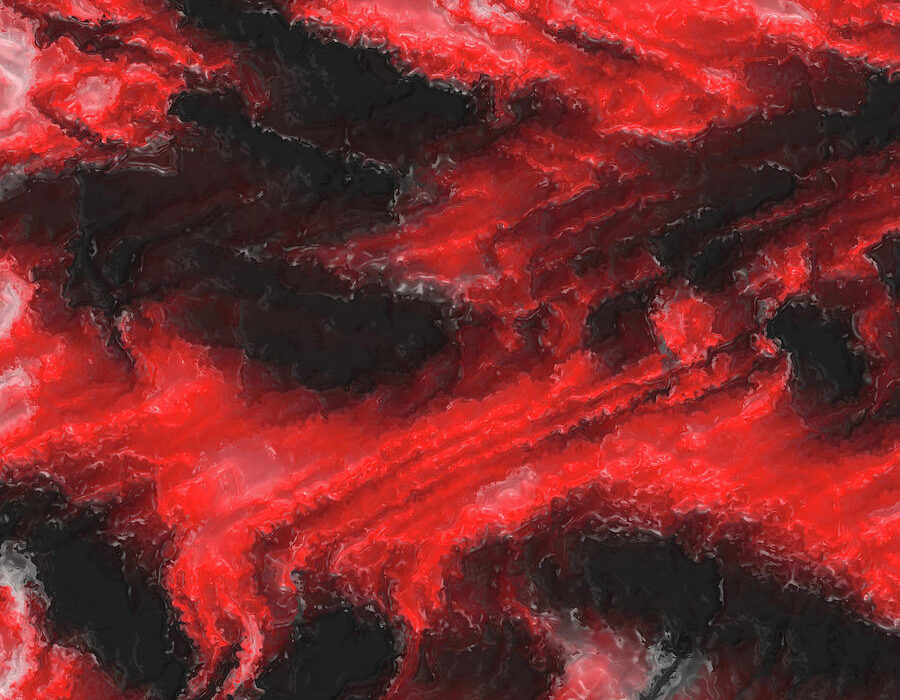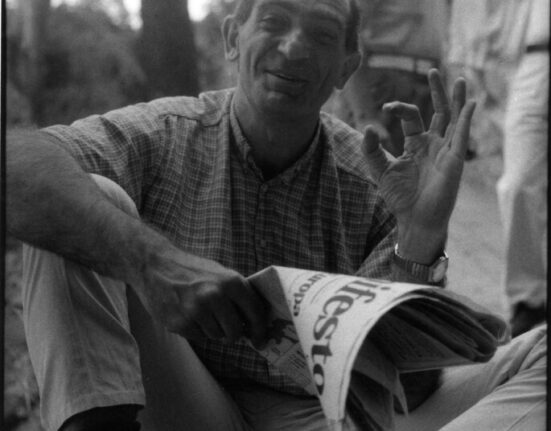Frederico Lyra entrevista com Daniel Feldmann | Revista Sinal de Menos
- Poderíamos iniciar essa entrevista abordando a especificidade desse conflito entre Israel e Palestina e a sua história em meio à aceleração do colapso da modernização. Por exemplo, um ponto no qual me parece fundamental insistir e quem sabe críticar é o lugar comum, sobretudo nas esquerdas, que sustenta que haveria suposta centralidade desde conflito tem em relação a tantos outros espalhados pelo mundo.
Claro que a história do conflito e sobretudo seus eventos mais recentes tem em si uma importância singular e de monta e pretendo voltar a este ponto. Mas acho que a pergunta é importante pois nos permite situar o que ocorre com Israel/Palestina num contexto mais amplo que tende a ser tantas vezes elidido que é o de uma aceleração da crise e de colapso global, que por sua vez se liga aos limites econômicos e políticos da sociedade da mercadoria, do valor, do capital. Existe um sentido de continuidade entre a guerra da Ucrânia e a guerra que começou em 7 de outubro e este sentido aponta para um caminho direto e inequívoco para uma guerra global. E isso independe em boa medida das vontades dos governos e elites.
Pois tal como há um “sujeito automático” do capital que obriga a busca de acumulação infinita de riqueza num mundo cada vez mais exíguo para tanto, há também uma espécie de “sujeito automático” da realpolitik, das razões de Estado, que precisa lidar com tensões insolúveis internas e externas aos países. Há, portanto, um imperativo que nos encaminha para a grande guerra independente das vontades individuais de quem governa e que está ligado ao fato de que não há lugar para todos na conjuntura vigente, seja no que diz respeito às populações, como também ao próprio capital e os seus Estados Nacionais. A ausência de horizonte aumenta a temperatura e os dissensos, numa corrida pelos espólios, pelos poucos espaços restantes. Daí que também tenhamos uma combinação explosiva de guerra civil, de guerra contra as populações e também de guerras entre Estados.
Uma outra forma de colocar o problema é lembrar uma certa semelhança entre o que se desdobra hoje em relação ao que Hobsbawn dissera sobre a Primeira Guerra Mundial: originalmente ninguém a desejava (pelo menos não assumidamente) até que as fricções imperialistas e alianças previamente firmadas entre os atores a tornassem inevitável. O que talvez complique ainda mais as coisas hoje é o fato de que existam setores cada vez mais importantes que não querem, nem mesmo retoricamente, conter as forças que empurram para a guerra, mas, ao contrário, afirmam em alto e bom som que querem acelerá-la. Estamos falando, é claro, da extrema direta, mas também dos diferentes fundamentalismos. E esse jogo de contenção e aceleração é agravado, creio, pela falência completa daquilo que se aventava nos anos 1990, a saber, algum tipo de “superimperialismo” ou de “capitalista ideal global” baseado nos EUA. Abre-se agora uma dada bipartição do mundo cujos epicentros são os EUA e a China em torno dos quais gravitam aliados muito bem armados.
Trata-se, é certo, de uma bipartição um tanto opaca e com países importantes com posição ambígua (pensemos, por exemplo, numa Arábia Saudita). Mas isso não torna o cenário menos perigoso pois o que se coloca de forma imediata é uma mundialização da guerra em que as capacidades de destruição dos potenciais contendores são infinitas, como se sabe. Isso faz com que aquilo pode aparecer como uma iniciativa de trégua ou contenção, na verdade é uma manobra para melhor se posicionar diante de um processo que globalmente se degrada e se acelera. Isso não quer dizer, por óbvio, que uma guerra mundial vai ocorrer necessariamente, mas sim que, no mínimo, a sua sombra passa a orientar as ações e as intenções. Nesse ponto, é preciso dizer que certas narrativas que se pretendem anti-imperialistas ou decoloniais perdem a mão, para dizer o mínimo. A positivação de um dos lados dessa nova bipartição do mundo ignora ou ao menos minimiza o fato de que as compulsões do sujeito automático do capital e das razões de Estado que empurram o mundo para o caos e a guerra operam muito vivamente no Sul e Norte Globais, do Ocidente ao Oriente. A ideia de que a grande tarefa da esquerda seria uma “nova hegemonia global alternativa” serve objetivamente para chancelar um dos lados da cruzada destrutiva que se põe em marcha, em vez de questionar as bases efetivas de tal cruzada. Daí que um pacifismo irrestrito e mesmo “ingênuo” contra todas as razões de Estado que se batem perigosamente no mundo me pareça hoje a única realpolitik digna de se defender.
Isso nos leva para o problema das representações e da digestão ideológica da guerra ora em curso. Repete-se agora com grande intensidade um dos problemas de sempre da questão Israel/Palestina: ele é sobrecarregado de simbologia, absorvendo em si mesmo todo um conjunto de projeções emocionais vindas de todos os lados, projeções estas muitas vezes fantasmáticas e que vão muito além das questões que envolvem o conflito em si mesmo. Penso que é isto que você quer dizer quando fala de uma suposta centralidade que se atribui falsamente a ele e dou razão. Aqui apenas farei uma primeira aproximação do problema que pretendo melhor desenvolver nas respostas às outras questões. A questão não é negar o óbvio, isto é, a gravidade e o alcance mundial do que ocorre hoje em Israel/Palestina mas sim apontar como as narrativas infladas acabam por servir de cobertura ideológica para o impasse em dois sentidos.
Em primeiro lugar, quanto se projeta sobre o conflito todo o mal-estar mundial de forma espetacularizada, uma possível saída real para um impasse que é nacional como no caso de Israel/Palestina, é totalmente escamoteada. Pois nesta via, afinal, o caminho para a paz e justiça entre israelenses e palestinos passa a ser tributário de uma nova cruzada pela Terra Santa cuja justificativa no limite se pauta de forma fantasmática pela luta contra a “conspiração sionista internacional” ou inversamente contra a “barbárie global árabe ou muçulmana”. Em segundo lugar e inversamente, quando tal impasse nacional vira uma espécie de conflito por procuração para todo o mal-estar civilizacional, é este último que não é tematizado. E ao não ser tematizado, isto é, quando se perde de vista os condicionantes objetivos e semiautomáticos que levam o mundo ao colapso, a tentação imediatista de se encontrar de “culpados” torna-se irresistível. Tal necessidade de uma resposta supostamente “prática”, rápida e já pronta para o mal-estar recalcado implica hoje na culpabilização dos judeus e dos palestinos (e também de forma mais ampla de árabes e muçulmanos). E aqui chegamos no ponto crucial, o antissemitismo e a islamofobia para além de incidirem perniciosamente no conflito em si, se propagam com enorme amplitude como ideologias da crise global e ajudam no processo de aceleração que descrevemos mais acima.
- Qual a real dimensão da ruptura que aconteceu no dia 07 outubro 2023 com o ataque do Hamas?
O dia 07 de outubro e suas consequências devem ser lidos a meu ver sob o signo da aceleração que acabamos de indicar. Creio que Zizek acertou quando disse que a brutalidade do ataque do Hamas e a brutalidade da resposta israelense tem o sentido e o objetivo cristalinos de perpetuar o ódio nacional e a guerra para sempre. A aceleração da violência implica que, Hamas e Netanyahu, por certo que com diferentes capacidades de destruição, estão entrelaçados numa dinâmica genocida. Deste modo, 07 de outubro e seus desdobramentos são um profundo golpe naquilo que é essencial. Pois a questão de fundo – que deveria ser a mais simples e óbvia à primeira vista, mas que objetivamente é a mais complexa – é que apenas o entendimento entre as nacionalidades judia e árabe, das populações israelense e palestina, pode abrir alguma saída. Ressalto aqui o papel das populações, das sociedades, posto que maioria das lideranças com poder efetivo em ambos os lados estão enredadas em corrupção, preservação de suas estruturas de poder, politização do ódio, para não falarmos da força do fundamentalismo judaico e islâmico. Desse ponto de vista, para além daquilo que é urgente e imediato – a saber, cessar-fogo já, extensa ajuda humanitária em Gaza e uma negociação para libertação dos reféns israelenses em troca dos prisioneiros palestinos – o problema que está colocado é o de como desarmar o impasse cuja eternização é o objetivo até aqui cumprido com muito sucesso pelo Hamas e o pelo governo Netanyahu.
Antes de voltar ao problema da ruptura que você pergunta, é preciso colocar o problema num horizonte mais amplo, justamente para sinalizar e qualificar que tipo de ruptura está em curso. Grande parte da confusão e da espetacularização do conflito Israel/Palestina se alimenta – de forma proposital ou não – do não reconhecimento de um estatuto sui-generis e contraditório das duas nacionalidades em disputa. De um lado, não há qualquer simetria entre israelenses e palestinos posto que Israel tem um poder militar enormemente maior que os palestinos que sequer estado tem. Ou seja, Israel é o estado opressor no conflito, que ocupa militarmente a Cisjordânia de forma cada vez mais violenta e realiza o bloqueio de Gaza (com o Egito). Desse ponto de vista, o problema não apenas da opressão cotidiana, mas também da despossessão e da frustração completa de direitos nacionais atinge diretamente os palestinos e só eles. Sem falar, é claro, que a violência direta na história de todo o conflito sempre pesou e continua pesando com intensidade bem maior sobre os palestinos do que sobre os israelenses. Desse ponto de vista, as relações entre israelenses e palestinos são totalmente assimétricas. Destarte, o fim da ocupação da Cisjordânia e do bloqueio à Gaza são imperativos para qualquer solução duradoura que se vislumbre, justamente porque estes são os pontos que perenizam o sufocamento e o esmagamento da causa palestina. Ademais, tal estado de coisas só pode ser justificado e normalizado através da crescente internalização na sociedade israelense do racismo e da estigmatização dos palestinos como o Outro com quem não se pode reconciliar. Por fim, o reconhecimento da tragédia (Nakba) palestina de 1948 que, tal como no caso dos judeus, criou uma diáspora de refugiados palestinos, persiste como fundamental (o que não nos desobriga, por outro lado, a pôr em xeque uma certa narrativa que se pretende “definitiva” sobre o evento – ver questão 7)
De outro lado e, entretanto, é falso e no mínimo bizarro como pretende uma certa esquerda negar ou minimizar a existência da questão nacional judaica. (Diga-se de passagem, virou moda agora querer impor aos judeus com arrogância acadêmica tipicamente ocidental quem e o que eles são ou não). Pois isso implica negar que para a maioria dos judeus a sua relação ainda bem viva com Israel, também é baseada na sua tragédia histórica, a tragédia que os empurrou para a saída derradeira da solução estatal sionista. A ideia de que os judeus poderiam ou talvez até mesmo deveriam ter evitado a migração em massa para a Palestina no século XX, ou ainda a afirmação de que o motor histórico que ligou os judeus ao sionismo foi algum tipo de desejo colonizador de conquista e não a explosão do antissemitismo, é um anacronismo nada sério. E em tempos de relativização das verdades históricas, vale lembrar que isso abarca não apenas os judeus vítimas do antissemitismo europeu que culminou no Holocausto, mas também os perseguidos e expulsos pelo antissemitismo do mundo muçulmano cujos descendentes hoje perfazem mais da metade dos judeus israelenses (que via de regra são ignorados pela mesma intelectualidade que se arvora tão crítica ao eurocentrismo e que acha válido cunhar sem maiores qualificações o sionismo enquanto tal como um “colonialismo europeu branco”.) Destarte, à despeito da enorme assimetria mencionada acima, há uma simetria entre judeus e árabes no sentido de ambos terem demandas nacionais legítimas na região. Por isso, a tentativa de muitos dos novos “teóricos” e “experts” autodeclarados no conflito de reduzi-lo mecanicamente à chave de uma luta colonial/decolonial que tudo abrange elide totalmente a questão. Pois isso permite preguiçosamente que se descarte de cara o problema do antissemitismo tanto no passado como no presente. O judeu nunca foi perseguido e odiado por ser um ser colonizado ou colonizável como tal. E tal “privilégio” nunca impediu que o desejo de extermínio dos judeus estivesse impregnado no inconsciente ocidental sendo depois transplantado para o Oriente. Isso não quer dizer, por outro lado, que o problema da colonização de Israel sobre os palestinos não seja real ou que seja menos relevante, mas sim que inclusive para se combater isto, não se pode impor à realidade um enquadramento teórico que a deturpa sobremaneira. Por exemplo: se os colonos franceses na Argélia tiveram a chance de voltar para sua nação e território originais, para qual nação e território que não Israel os judeus deveriam voltar?
Assim, encarar de frente essa relação contraditória entre aquilo que é assimétrico e o que é simétrico, entre o que é uma opressão nacional a um povo e uma questão nacional que confronta dois povos, não é uma mera formulação teórica, mas sim uma pré-condição sine qua non do problema. Aquilo que é simétrico no conflito só pode ser resolvido para valer se for endereçado aquilo que é assimétrico, e vice-versa. A maneira geral pela qual o conflito é representado e simbolizado incide diretamente em todos os seus detalhes. E aqui podemos voltar mais diretamente ao ponto da pergunta. A ruptura do 7 de outubro que você pergunta, talvez não seja exatamente uma ruptura, mas sim uma aceleração catastrófica de tendências pré-existentes que vai justamente no sentido contrário da pré-condição sine qua non que acabamos de enunciar. Talvez seria melhor falar então de um salto de qualidade, que normaliza em escala de massa uma dinâmica devastadora de intenções e ações assassinas e suicidas ao mesmo. E aqui, mais uma vez a ideia do assimétrico-simétrico é válida. A assimetria aqui hoje se revela hoje na destruição de Gaza, no massacre sem precedentes de palestinos pelos bombardeios de Israel, na crise humanitária que acomete a população, num desmantelamento irreversível das formas de vida lá existentes, sem falar no crescimento dos ataques e roubos de terras por colonos judeus de extrema direita na Cisjordânia. O quadro aberto em 7 de outubro com o massacre de israelenses pelo Hamas escancara e efetiva assim a enorme disparidade dos meios de destruição e morte disponíveis para Israel sobre os palestinos. A punição coletiva que já se fazia presente no cotidiano da ocupação chega às raias do paroxismo.
Já o que poderíamos chamar aqui de simetria – no sentido de uma aceleração destrutiva que temos exposto e por isso certamente uma simetria negativa – se revela na complementariedade e reforço mútuo entre as ações do Hamas e do Governo Netanyahu. Tal reforço mútuo se mostrou em primeiro lugar no fato de que o novo cenário permitiu ao Hamas recuperar seu apoio entre os palestinos, bem como tem permitido uma sobrevida de Netanyahu que viu as manifestações contra seu governo abruptamente abortadas em nome do apelo à união nacional em tempos de guerra. Mas mais relevante e grave ainda é o fato de que há uma simetria que vai no sentido de reforçar tendências já anteriormente postas e que apontavam como “solução” para o conflito a obliteração completa de uma ou outra das nacionalidades. Claro que aqui também há uma assimetria que paira de forma bem mais pesada e imediata contra o lado palestino, pois o prolongamento da guerra traz o risco de uma mortandade e destruição que podem ser ainda muito maiores em Gaza, assim como o risco de uma limpeza étnica em Gaza ou mesmo na Cisjordânia. O fato de que para fugir da cadeia o corrupto Netanyahu precise prolongar a guerra indefinidamente, e também o fato de que para se manter no poder ele precise ser flanqueado pelos elementos fundamentalistas judaicos racistas e islamofóbicos que clamam por vingança genocida contra a população palestina (um dos quais já cogitou até mesmo jogar uma bomba atômica em Gaza!), revelam a medida do problema.
Todavia, isso não quer dizer que o processo em curso deixe de trazer riscos que não podem ser desprezados também para os israelenses. Pois para estes últimos, se é verdade que o Hamas em si mesmo não comporta hoje uma ameaça existencial imediata, o mesmo não pode ser dito para o Eixo da Resistência liderado pelo Irã. Pois este último. somado aos seus proxys na Síria, Líbano, Iêmen e Iraque tem meios de destruição muito mais relevantes do que o Hamas ou a Jihad Islâmica tomados isoladamente. Se é verdade que desde a guerra de 1967 existe uma relação de intenso apoio dos EUA a Israel em função de seus interesses imperiais, apoio que garantiu até aqui o poder israelense insuperável no Oriente Médio, isso não quer dizer que o estatuto do Estado Judeu não seja precário, ao contrário. Afinal, o mesmo apoio pode ser visto de forma inversa: sem os EUA, Israel já não existiria há décadas. E a ameaça de extinção/destruição de Israel, que já se fez presente em certos momentos no confronto com o antigo nacionalismo árabe laico, agora volta à tona como a própria visão de mundo antissemita do Eixo da Resistência, cujo centro é o fundamentalismo islâmico dos aiatolás de Teerã. E aqui entra o triste papel de certos “teóricos” e guerrilheiros de redes sociais no Ocidente que insistem em dourar a pílula ao relativizar ou mesmo apoiar o programa do Eixo da Resistência que clama pelo fim de Israel. Em alguns casos argumenta-se toscamente ainda que isso não implicaria em violência contra os judeus, mas sim um processo “benfazejo” e “emancipatório” para todos que moram na região. Entretanto, qualquer cidadão israelense médio que assiste o noticiário (ou mesmo qualquer pessoa que busque se informar minimamente sobre o que os líderes do Eixo declaram em seus países e não a filtragem “progressista” de tais declarações que chegam para o Ocidente) sabe que ele deve ter bons motivos para duvidar das boas intenções de tal suposta “resistência anticolonial” encarnada no Eixo da Resistência, sobretudo diante da aceleração do caos no Oriente Médio e no Mundo de forma mais ampla. Ou seja, se não há comparação entre o grau de violência objetiva sofrida hoje por palestinos e judeus, isso não autoriza de outro lado o confortável deboche de partes da esquerda ocidental que ridicularizam as ameaças que pairam sobre os israelenses, enquanto seus países não são jamais ameaçados de existência como tais da mesma forma.
E aqui chegamos ao ponto crucial da simetria negativa: as intenções dos que querem acabar com os palestinos alimentam e corroboram as intenções dos que querem acabar com os judeus. E vice-versa. Que as consequências obviamente desastrosas dessa narrativa sejam desejadas pelos fundamentalistas e pela extrema-direita já era de se esperar. Mas que elas sejam também esposadas ou na melhor das hipóteses minimizadas por parcelas importantes da esquerda pró-palestina e também por parcelas importantes de um centro liberal pró-Israel, mostra que a tolerância para com a aceleração destrutiva, ou mesmo a sedução diante de tal aceleração, transcendem as fronteiras ideológicas. Isso sim poderíamos chamar talvez mais propriamente de uma novidade, de uma ruptura. Ruptura esta que nos leva de volta para o cenário global. O fetiche do judeu ou o fetiche do palestino(depois tentaremos apontar as formas específicas em que tais fetiches aparecem) que estão por trás do antissemitismo e da islamofobia como projeções fictícias sobre o Outro, tendem a crescer justamente num mundo dominado por ficções: as promessas fictícias e traídas da modernização que deixam seu legado de ressentimento e fobias, um capitalismo com um funcionamento que parece opaco dependendo cada vez mais da acumulação fictícia, a superprodução de imagens na forma do espetáculo que faz as vezes da própria realidade sensível, etc. Neste sentido, seria a ficção da ideia de progresso – e as dificuldades reais de um pensamento e ação que apontem para além dele – que abrem espaço para o flerte dos progressistas com as ideologias de crise mencionadas.
- Me parece fundamental elaborar uma crítica às diferentes posições ideológicas hegemônicas no âmbito da esquerda mundial, em particular a brasileira, tendo como parâmentro os conflitos e ageopolítica mundial. Me parece que existem três posições principais que poderíamos nomear de maneira provocadora como : Esquerda-Putin, Esquerda-Hamas e Esquerda-Otan (ou Esquerda-Ocidental). O que você pensa destas três posições ideológicas? Quais os problemas de cada uma no contexto do agravamento da crise do capital numa era nas quais as expectativas decrescentes (Paulo Arantes) tentem a encolher ainda mais? Haveria alguma alternativa na mesa ou algo por inventar sem perder a dimensão da situação presente?
Na trilha do que acabamos de dizer, eu começaria dizendo que o contexto mais geral dessa questão é ausência de um horizonte de superação da sociedade da mercadoria e do valor. Ao não ser tematizado e endereçado o aprofundamento em doses cavalares da crise desta sociedade e de seus Estados, gera-se um vácuo que permite que a esquerda se predisponha ideologicamente seja à busca de identidades e estilos de vida pretensamente alternativos, seja à tentativa de ressuscitar um quadro de referências já obsoleto (p.ex. na ideia de que o estatismo poderia oferecer uma real alternativa ao capital), seja à procura imediatista daquilo que aparenta falsamente ser algum tipo de “resistência” aos poderes constituídos. Certamente a crise profunda do mundo do trabalho e o fenecimento da antiga classe trabalhadora forte e coletivamente organizada joga um peso nisso. Há assim uma tendência à terceirização da luta pela transformação social, à busca de atalhos, que reflete a necessidade de se simular algum tipo de potência e pretensa radicalidade em meio à impotência generalizada. Claro que não se trata aqui de minimizar as dificuldades de superar a sociedade do valor e da mercadoria e eu me incluo nelas. O que não é desculpável, por outro lado, é o fato de que sequer o problema seja colocado. Pois é isso que abre espaço para as representações ideológicas que, presas às categorias das formas de reprodução econômica e sociabilidade vigentes, se degradam na mesma medida da degradação de tais formas.
a) Esquerda-Putin
O caso da esquerda-Putin expressa de forma cristalina o fetiche da geopolítica como sintoma da ausência de uma política transformadora. Seu fundo ideológico mais amplo é a ideia de que a grande tarefa do momento seria erigir uma nova hegemonia a partir do Oriente como se isso não fosse reiterar a partir de outro centro geográfico a mesma dinâmica econômica, social e política que acelera o colapso. Mas como o mal ocidental também é oriental, esta posição só pode ser sustentada na base de argumentos tortos que buscam defender com sinal invertido os mesmos pecados que com razão se critica os EUA, o Ocidente e Israel. Assim como num campo os bombardeios à Gaza são legitimados em nomes do “combate ao terrorismo”, noutro campo os bombardeios da Ucrânia tornam-se “compreensíveis” em nome de um combate ao “nazismo ucraniano”. Vale notar aliás, que o mesmo argumento de “combate ao terrorismo” é o que sustentou as duas guerras devastadoras de Putin na Chechênia com dezenas de milhares de civis mortos, assim como essa é a mesma argumentação de Assad cujo extermínio de centenas de milhares de civis sírios seria impossível sem a ajuda direta da Rússia e do Eixo da Resistência. A esquerda-Putin, dessa forma, simplesmente faz a apologia sem princípios de determinadas razões de Estado contra outras. Mas se esse for mesmo o critério, pode-se argumentar ainda que a razão de Estado israelense é menos indefensável do que a russa, em função de uma predisposição real que existe no sentido de extinguir Israel no Oriente Médio. Trata-se, enfim, de posar de humanista e apontar o dedo demagogicamente na cara dos outros para denunciar os mesmos tipos de crime que se tolera ou mesmo se defende quando seus executores estão no campo geopolítico “certo”. E que campo!
E se pensarmos para além do putinismo stricto sensu, isto é, se pensarmos mais amplamente nos apologetas do Oriente e/ou do Sul Global como nova bússola do planeta, o mesmo problema se repõe. Por exemplo, a mesma islamofobia que se propaga no Ocidente também é reproduzida em escala brutal contra os uigures na China, sem falar que a islamofobia é a própria ideologia de estado na Índia. Assim como o rechaço aos migrantes e refugiados não é apanágio do Ocidente, veja-se o um milhão de afegãos que o Paquistão acaba de anunciar a expulsão. E por aí vai… No debate brasileiro em especial, o problema aparece na crença dos Brics como panaceia diante da ausência concreta de qualquer horizonte de projeto nacional de desenvolvimento no novo governo do PT. Note-se que aqui não se trata de rechaçar em si os BRICS ou outras iniciativas do tipo Sul-Sul no plano econômico, mas sim criticar a maneira que isso é cantado e decantado como alternativa para os impasses globais. Ou seja, tudo se passa como se, em função de alguma razão misteriosa, ao Leste e ao Sul do mapa-múndi tais impasses (assim como os imperativos da lei do valor!) estivessem suspensos ou mitigados. Só que não…
b) Esquerda-Hamas
Já o que você chama de esquerda-Hamas, é possível dizer que para certas camadas dela há semelhanças com o que acaba de ser dito sobre a esquerda-Putin, isto é, a defesa implícita ou explícita do Hamas e do Eixo da Resistência como aliados na pretensa cruzada geopolítica. Mas para distinguir o que há de singular nesse segundo grupo, eu diria que se trata aí de um fetiche da “resistência” enquanto tal. Em primeiro lugar, creio que essa discussão tende a ser turvada e distorcida pela própria maneira que conceito de “resistência” vem sendo utilizado. Pois uma coisa é dizer que os palestinos têm direito de resistência – inclusive violenta – contra a ocupação, contra as incursões do Exército nos territórios etc. Mas isso não implica jamais dilatar e deturpar de tal forma o conceito de resistência, para que nele caibam todos os meios e todos os fins, todas as formas e todos os conteúdos. Note-se de passagem que o sofrimento social causado pelo capitalismo em fim de linha suscita também diferentes formas de “resistência” e que boa parte delas tem sido capitalizada pela própria extrema direita, por diferentes formas de fundamentalismo e também em ataques indiscriminados “amok” em escolas, locais públicos etc. Se “resistência” é o puro e genérico ato de violência advindo de pessoas que sofrem ou que são oprimidas, ela passa a equivaler a um sintoma do próprio modus operandi da sociabilidade contemporânea e não algo que que se contrapõe a ele.
Daí que o argumento de que se deve apoiar toda forma de resistência advinda de um grupo que se pretende representante de um povo oprimido, independentemente dos meios, fins e programa político empregados, é uma negação da própria ideia de resistência. E voltando ao caso do Hamas, o crucial é perceber que há uma direta correspondência entre os meios e os fins de suas ações. Os meios empregados – massacre, estupros, decapitações, sequestros e sadismo contra judeus – são inexplicáveis se não entendermos que eles fazem parte de uma dada visão de mundo antissemita (não apenas do Hamas, mas também do Eixo da Resistência). Outro indício disso, independentemente se foi ou não algo pré-planejado, foi o ataque aos kibbutzim que vitimou ativistas pela paz, ou ainda o festival de jovens. Uma liderança palestina chegou a dizer que Israel como um todo é uma “rave de assassinos”. Como não ver aí um dos temas clássicos do antissemitismo que acusa os judeus de serem promotores devassos do hedonismo, promovendo a dissolução da moral, da família etc.? Ademais, alvejar civis judeus sempre foi a política do Hamas, assim como a corrente política à qual ele se afilia, a Irmandade Muçulmana, já pregava um antissemitismo muito explícito antes mesmo da existência de Israel. Por fim, é evidente que o ataque do Hamas foi muito bem planejado durante anos – e recentemente foi reivindicado diretamente pelo Irã também – e não se tratou de uma mera explosão espontânea de “fúria dos oprimidos”.
Daí que uma esquerda que confortavelmente no Ocidente ergue faixas saudando a “resistência por todos os meios necessários” conscientemente ou não adere aos fins aqui criticados. Calibrando o argumento. O que está em jogo aqui não é o fato óbvio de que “toda ação gera uma reação”, isto é, é claro que a violência que Israel impõe aos palestinos acarreta uma reação e que também a brutalidade da ocupação ajuda a pavimentar as condições para que movimentos como o Hamas se reforcem. E é evidente também que a solidariedade aos palestinos como povo, sobretudo após a devastação atual imposta por Israel em Gaza, é ainda mais justa e necessária e que no Ocidente ela está sendo censurada em muitos casos. Mas isso não anula o fato de que para uma certa esquerda, a crítica a Israel é cada vez mais politicamente traduzida sem pudores nos moldes dos estereótipos antissemitas e da aversão aos judeus. Reações ao 7 de outubro na esquerda, que foram da relativização até o gozo doentio com a morte de judeus, indicam um fenômeno que vai muito além de um apoio consistente aos oprimidos. Na verdade, é bem o contrário disso. Trata-se, portanto, de uma esquerda à sombra do Hamas e do Eixo da Resistência e que oferece cobertura “progressista” para um programa político regressivo cujas consequências políticas já indicamos aqui. O nome Eixo da Resistência é tomado de forma literal, pelo seu fraudulento valor de face.
E a própria ideia de que não se poderia criticar o Hamas com o argumento “anti-orientalista” de que não se deve dizer de que forma palestinos devem ou não devem resistir, no fundo é ele mesmo um argumento orientalista. Em primeiro lugar, num plano mais genérico, tomar expressões políticas que falam em nome dos oprimidos como algo não passível de crítica, na prática me parece ser rebaixá-los de forma preconceituosa e paternalista. Pois quem não pode ser criticado por motivos óbvios também não pode ser considerado um interlocutor digno e com agência própria. Ligado a isto, é evidente também que o endosso ao Hamas na prática é bloquear irremediavelmente o caminho para a agência de palestinos que visam outras formas de resistência. E se é verdade que o bloqueio de Israel (e do Egito) ajudou a degradar sobremaneira as condições de vida em Gaza, isso não anula em nada a responsabilidade do Hamas que exerce de forma ditatorial uma economia de extorsão sobre os próprios civis palestinos. E por fim, como deveria ser óbvio sobretudo depois de 7 de outubro, Hamas e Netanyahu são imprescindíveis um ao outro. Tal complementariedade não é apenas ideológica, mas sim também bastante material pois como se sabe Netanyahu deliberadamente ajudou a reforçar o Hamas financeiramente. Estimulando as doações em dinheiro que o Hamas recebia do Qatar, Netanyahu buscava incensar o inimigo perfeito para cinicamente promover a ideia de que qualquer negociação com os palestinos seria impossível. Em suma, como no fundo Hamas e Netanyahu se retroalimentam, o vale tudo contra o sionismo da parte de certa esquerda nos fatos acaba por ajudar a narrativa das formas mais violentas e de extrema-direita de sionismo.
c) Esquerda-Otan ou Esquerda-Ocidental
Já o que poderíamos tomar aqui como esquerda-Otan, eu mesmo não tenho um conhecimento mais detido de tais posições, mas creio que poderia aqui ao menos sugerir um “tipo ideal” de conduta. De cara, poderíamos dizer que se a esquerda-Hamas e esquerda-Putin negam a vigência ou endossam o antissemitismo (o que no fundo dá na mesma), a esquerda-Otan faz o mesmo com relação à islamofobia. Antes de voltar a esse ponto, para seguir a mesma lógica que usamos anteriormente, poderíamos aqui descrever a esquerda-Otan como aquela que pratica o fetiche da razão, da democracia e da cidadania ocidentais. O problema de fundo aqui é que uma posição que já é muito criticável em si mesma, torna-se ainda mais deficiente no contexto atual que tentamos circunscrever na primeira pergunta desta entrevista. Justamente no momento em que o diagnóstico de Adorno no pós-guerra parece ser mais atual do que nunca, a saber, a ideia de que a aparente estabilidade das sociedades modernas ocidentais trazia em seu seio tendências de implosão fascista ou fascistizante, a posição desta esquerda parece se agarrar a um Titanic que já bateu no iceberg.
Creio ainda que a raiz teórica do problema da esquerda-Otan – e que aparece também, mas com outras facetas, na esquerda-Putin ou Hamas – é o abandono da centralidade da crítica à economia política em sentido lato. E aqui não se trata de uma querela doutrinária ou metodológica, mas sim de se dar o peso devido à questão da reprodução cotidiana do capital em crise, à sua estrutura impessoal de propagação e dominação, bem como às práticas e representações mediante as quais se produz a agência concreta dos indivíduos a partir daí. O que acontece com a vida quando o “fato social total” que a governa emperra ao mesmo tempo que isso não ameniza em nada as compulsões fetichistas do capital, muito pelo contrário? O que vira a política tal qual se conhece neste quadro? Ou ainda, o que vira a razão instrumental de dominação da natureza (interna e externa aos sujeitos) quando esta última precisa ser degradada em escala inaudita? Por certo que não se está aqui exigindo “a resposta certa” a tal problema – que também nós não temos – mas sim sugerir que as respostas atravessadas têm muito a ver com aquilo que se pergunta (ou não). E no caso da esquerda-Otan, justamente, aquilo que não se pergunta para valer são justamente os mecanismos por assim dizer endógenos, isto é, como a própria possibilidade de uma política de consensos, comunicação, acordos, avanços etc. vai se deslegitimando até virar uma farsa que faz emergir a raiva popular que vemos hoje ser canalizada para a demagogia da extrema-direita.
Isso nos leva ao seguinte. A defesa irrestrita de Israel da parte da esquerda-Otan vai no sentido oposto daquilo que ela verbalmente esposa, a saber, a preservação do país como uma rara democracia (para os israelenses pois para os palestinos nos territórios isso obviamente nunca existiu) no Oriente Médio e também o lugar do país como contraponto ao antissemitismo global. No limite ainda, tal posição da esquerda-Otan joga lenha no processo de destruição de Israel seja de forma endógena em função de um colapso interno do país, seja de forma exógena em função cenário externo de colapso no Oriente Médio e no mundo em geral. A guinada fascista e antidemocrática em Israel, se explica pelo entrelaçamento na sociedade israelense da normalização de uma ocupação cada vez mais encarniçada e que se pretende eterna de um lado, com uma resposta ultranacionalista e racista à ameaça antissemita real do Eixo da Resistência de outro lado. Além do fato também que Israel expressa o mesmo processo global de esgotamento das ditas democracias capitalistas que permite a extrema direita traduzir a ausência de progresso e de lugar para todos numa dinâmica de aceleração destrutiva que se assemelha à guerra civil. E no caso de Israel, a guerra civil não é uma mera metáfora dada tensão interna explosiva existente mesmo antes de 7 de outubro.
E, justamente, tal guerra civil se prolonga na guerra em Gaza e vice-versa. Uma acelera a outra e a união nacional que Netanyahu logrou produzir em função da guerra só pode se manter exportando a guerra interna para fora. É por isso que toda a loucura de Netanyahu tem a sua rationale: não ter um plano para a guerra como os EUA têm criticado (ao menos na retórica) é o próprio plano de guerra. A ausência de objetivos torna-se o próprio objetivo permitindo assim um quadro de guerra permanente. Este último cumpre a função de dar uma sobrevida à coalizão atual de extrema-direita e também de intensificar a marcha para uma semi-ditadura que pode provisoriamente impedir a explicitação das contradições internas, mas apenas ao preço de acelerar as tendências explosivas internas da sociedade que certamente virão à tona mais à frente. Por isso o endosso da esquerda-Otan a esta guerra é duplamente absurdo. Internamente, a guerra em Gaza ratifica a vitória das forças fundamentalistas e ditatoriais que estavam politicamente acuadas diante das mobilizações de massa até o 7 de outubro. Externamente, tal guerra já não tem já não tem nada a ver com a defesa de Israel mas sim de uma lógica assassina-suicida que é a mesma do Hamas/Eixo da Resistência com sinal invertido. Não se trata, portanto, de um cenário comparável às guerras de 1948, 1967 e em menor escala em 1973 onde havia sim uma ameaça existencial a Israel. Isso não quer dizer que não exista tal ameaça hoje para Israel (assim como para todo o Oriente Médio) mas ela não reside no Hamas como tal, mas sim numa dinâmica aceleracionista da guerra que venha a envolver o Eixo da Resistência como um todo, eventualmente com apoio da Rússia e mais veladamente da China, ao passo que os EUA permaneceria sustentando Israel. Se este não é o cenário mais provável hoje, o horizonte mais geral de preparação para a guerra global permite sim antever tal possibilidade, o que reforça aquilo que comentamos como a ideia da paz como única realpolitik digna desse nome. E por isso também que a política de Netanyahu tem também um fundo suicida. Seja a esquerda-Otan apoiando o belicismo de Israel, seja a esquerda-Hamas ou Putin apoiando o belicismo do Eixo da Resistência, temos aí a tragicomédia de uma esquerda que se presta a dar cobertura para a aceleração destrutiva e bárbara.
Tal aceleração destrutiva, que tem homologia com o atual “espírito do mundo” em que os sujeitos automáticos do capital e das razões de Estado criam as bases gerais para uma lógica assassina/suicida em diferentes dimensões da vida, é precisamente aquilo que é ignorado pela esquerda-Otan. A formalidade institucional democrática e cidadã do Ocidente não apenas é ultrapassada pela extrema-direita como também ela mesma depende cada vez mais de uma lógica securitária e repressiva. Pois tal institucionalidade no fundo sempre dependeu de uma integração harmoniosa através dos mercados, integração essa que como sabemos sempre foi limitada e muito desigual nas diferentes regiões do mundo. Quando a capacidade de integração via mercados se desintegra, a verdade da repressão, da xenofobia e da administração da exclusão deve vir à tona. E isso se liga diretamente ao problema da islamofobia como ideologia de crise. Pois para além de ser a ideologia que justifica a brutalidade do ataque israelense à Gaza contra os palestinos, a islamofobia ocupa um significado mais amplo que reside na estigmatização do imigrante, do refugiado ou de bárbaros inferiores que não se adequam à “civilização” moderna e para quem não há mais lugar. E aqui reside o motivo de fundo da identificação de grandes parcelas da extrema-direita e mesmo do centro liberal no Ocidente com a política de Netanyahu. A esquerda-Otan se associa a tal visão islamofóbica e com isso de quebra, ajuda indiretamente a incensar também o antissemitismo pelo fato de que, sobretudo depois do 7 de outubro, os dois tipos de ódio social estão totalmente imbricados, um alimentando o outro.
- Como pensar o problema histórico do antissemitismo no capitalismo, e mais especificamente do antissemitismo no Brasil, sem perder o fio do momento histórico?
Antes de tudo, creio que há muito pouco debate sobre o antissemitismo na esquerda em geral e talvez menos ainda na esquerda brasileira. Por isso vou tentar aqui abordar o problema de uma forma mais ampla, dentro do espaço que me cabe, sem prejuízo de voltar mais à frente ao problema do antissemitismo na direita e extrema-direita. Como gancho para esta questão, quero clarificar a ideia com que conclui a pergunta anterior, de forma a poder avançar no tema. Dizer que islamofobia alimenta o antissemitismo e vice-versa não só é muito correto como é central como temos tentado argumentar. Mas isso pode dar margem para uma confusão que cresce na esteira desses últimos meses. Existe tanto na sociedade de forma geral, mas com especial frequência na esquerda, a afirmação de que a culpa do aumento do antissemitismo reside em Israel, no sionismo, ou seja, nos próprios judeus. A culpa do preconceito assim deixa de ser do próprio antissemita, o que não deixa de ser uma justificativa para muita gente flertar sem maiores pudores com a aversão aos judeus. É óbvio que a ação de Israel em Gaza serve como pano de fundo e combustível para o aumento das manifestações antissemitas, mas daí a atribuir a culpa do antissemitismo aos judeus, pois é disso que se trata, mostra um sinal de uma degradação ideológica geral. Se alguém disser que a culpa da islamofobia não é do próprio islamofóbico, mas sim alguma coisa ou governo ligado a árabes ou muçulmanos, ou ainda que o racismo contra os negros não é culpa do racista, mas de algo vinculado aos negros, essa pessoa seria taxada sem dó e com razão de racista. O fato de que vemos hoje muita gente “douta” e com PhD colocando a culpa nos próprios judeus é um sintoma por si mesmo e que merece ser investigado.
As ideias de culpa e sintoma não são arbitrárias aqui, pois elas fazem parte da própria estrutura mental do antissemitismo num sentido muito profundo. E aqui remeto para uma passagem de Sartre que dizia no seu clássico livro sobre antissemitismo “Nós já paramos para considerar a situação intolerável dos homens condenados a viver em uma sociedade que adora o Deus que eles mataram?” (Sartre, 1948, p. 48)”. Isso que Sartre descreve, a saber, o estranhamento por assim dizer “ontológico” que joga com a culpa originária do judeu e que se manifesta tantas vezes de forma inconsciente, ainda persiste como central para a análise do antissemitismo. Não se trata, por certo, de tratar o antissemitismo como um problema a-histórico e eterno, mas sim de perceber como o estigma do judeu como alguém dotado de incomensuráveis atributos maléficos e obscuros (capazes de matar Deus!) pode reaparecer em diferentes roupagens em diferentes períodos. Como viu-se muito no último Natal, a associação deliberada nas redes sociais de israelenses matando mais uma vez um Jesus palestino não é apenas uma deturpação da história de Cristo ou ainda uma metáfora para a crítica da brutalidade de Israel, mas também é uma nova acusação apresentada aos judeus sobre seu crime originário absoluto. Se não uma acusação direta, ao menos uma suspeita de culpa. E como dizia Adorno, o antissemitismo não raro aparece como uma suspeita, como um rumor sobre os judeus. E justamente aí uma das dificuldades de se reconhecê-lo e a consequente facilidade de seus perpetradores rejeitarem a pecha. O antissemitismo aparece muitas vezes como uma sugestão subliminar deixada no ar, ou então como a tentativa de decifrar algo opaco, como algo encoberto por detrás das cortinas.
De um ponto de vista mais geral, cremos que é justamente tal opacidade e o encobrimento das relações sociais de fundo do capitalismo contemporâneo que dão combustível para a retomada da verborragia antissemita de camadas da esquerda à extrema direita. Para clarificar esse ponto, vale distinguir a singularidade da islamofobia de um lado e a do antissemitismo, de outro. A islamofobia, se seguirmos a pista de Edward Said, fetichiza o palestino (ou o árabe e muçulmano) como alguém atrasado, violento por natureza, exótico, fanático, impermeável a argumentos racionais, irascível e intolerante. Já no caso do antissemitismo, a fetichização do judeu passa por outras características: conspirador, ardiloso, dotado de superpoderes ocultos e misteriosos, cosmopolita sem raízes, apátrida, artificial e fantasmagórico. Tal opacidade do judeu é o que permite que ele seja associado de diferentes formas aos infortúnios de uma vida moderna cujo funcionamento também paira como algo opaco, incontrolável e heterônomo. O caráter ficcionalizado e espetacularizado da nossa própria realidade abre espaço para que o fantasma do judeu (para usar uma expressão de Leon Pinsker) ocupe o lugar da reflexão real sobre a sociedade. Assim, diferentemente do palestino (ou do árabe e muçulmano) que é rotulado como alguém inferior ou incivilizado, ou judeus não são rotulados como inferiores, ou incivilizados, mas sim como os usurpadores maléficos da própria civilização.
Abre-se assim a caixa de Pandora. A tarefa de desvendar e criticar o funcionamento de um sistema econômico e social aparentemente indestrutível e insuperável dá lugar à preguiçosa simplificação imediata falsamente antissistêmica. No limite, a dominação social objetiva não tematizada ou mal compreendida é identificada com os supostos poderes dominadores e inescrutáveis do “sionismo”, de Israel, do “lobby judeu”, entre outras baixezas, reabrindo-se assim as portas para a demagogia antissemita. E a negatividade social generalizada de nosso tempo pode reencontrar como alvo aqueles que ainda pairam no “inconsciente coletivo” como os negadores absolutos de Deus, reatualizando o argumento de Sartre. Assim, a negatividade dos ideais traídos de nação, progresso, harmonia, trabalho, desenvolvimento etc., são transferidos em maior ou menor escala para os novos-velhos responsáveis de sempre. Estaria eu aqui forçando um tanto o argumento? Tempos atrás até diria que sim, porém não muito. Em todo o caso, hoje, quando um bem conhecido economista progressista no Brasil acha por bem atribuir as mazelas das instituições financeiras globais ao “lobby judaico”, ou ainda quando um professor de Ciência Política vai buscar as supostas raízes comuns do sionismo e do nazismo numa essência expansionista e genocida dos judeus desde o velho Moisés, tal estupidez com cátedra universitária é mais um sinal de que a coisa mudou de qualidade…
E tais sinais de fato abundam pós 7 de outubro, basta ver os incontáveis estereótipos crassos sobre os judeus nas seções de comentários de qualquer notícia na imprensa brasileira que aborde Israel. Na assim chamada mídia alternativa e progressista, a frequência desse tipo de comentário é ainda maior que a média, para não falarmos no bom número de vezes que os referidos estereótipos são apresentados diretamente pelos próprios jornalistas ou convidados como “notícia” ou “análise”. Certamente da parte de alguns inescrupulosos temos aí uma boa estratégia de marketing e “entretenimento” para angariar mais “likes” nas suas redes sociais. Desse ponto de vista, o antissemitismo é normalizado. A ideia de que “veja bem, isso não é uma tendência majoritária” é falsa não apenas pelo volume de manifestações, mas também pelo fato de que quase ninguém se contrapõe a isso. Por isso, nada menos do que um estado de espírito antissemita sempre latente agora aflora com força e, seja pela covardia, seja pela complacência de muitos, torna-se muito difícil combatê-lo. Retenhamos um último, mas fundamental exemplo, que mostra que esses “deslizes” da esquerda podem aproximá-la da demagogia do outro extremo do espectro político. No contexto de uma polêmica na virada do ano na qual a Confederação Israelita do Brasil (CONIB) processou um jornalista, uma nota oficial do PT saiu em defesa desse último, acusando a entidade judaica de “agir em nome do governo de Israel em nosso país”. Esses judeus são mesmo uns apátridas desleais que agem em nome de uma entidade estrangeira! Isso é o que qualquer pessoa com dois neurônios pode daí depreender dessa retórica que faz lembrar a do famigerado “Plano Cohen”. Num arroubo patriota, a presidente do PT ainda arrematou “o nome do nosso país é Brasil”. Assim, se no Natal ouvimos que os judeus não são um povo de Deus, no Ano Novo o Partido dos Trabalhadores diz que os judeus não têm pátria, não são verdadeiros brasileiros. E aqui chegamos numa curiosa e perigosa semelhança com alguém bem conhecido que tinha como bordão “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.
Enfim, esse é o cenário bem degradado posto. Mas eu não acho, de outro lado, que isso se trate de uma exclusividade da esquerda brasileira e de suas mídias. Talvez jogue um peso no Brasil o fato de que aqui a mentalidade “campista” que privilegia um dado campo geopolítico em detrimento da crítica ao capital e sua sociabilidade enquanto tais tende a ser mais forte do que em outros países. Assim, talvez seja mais comum amalgamar por aqui a aversão aos EUA, Israel, sionismo, judeus etc. fazendo com que essa salada indigesta apareça com uma frequência um pouco maior em parcelas da nossa esquerda. Por fim, é claro que existe uma enorme confusão também e não se trata de atribuir às todas as pessoas que se aproximam dos estereótipos antissemitas de um “pecado original” irreversível. Ademais, a estupidificação e o embrutecimento é um risco que todos nós sem exceção corremos na atual conjuntura no Brasil e no Mundo. Mas a única forma de se combater isso, é se colocando os pingos nos “i”s.
- Você poderia apontar quais os limites da crítica teórica tradicional para pensar o antissemitismo? Qual a dimensão da contribuição teórica de Moishe Postone? E o quão a Dialética do Esclarecimento (Horkheimer/Adorno) continua sendo ou não pertinente para pensar este problema em um mundo tão diferente daquele no qual esta obra foi publicada?
Moishe Postone
A pergunta é bem oportuna e me permite circunscrever e contextualizar os pontos apresentados na pergunta anterior. Creio que o mérito de Moishe Postone foi ter mostrado que o antissemitismo não pode ser pensado tal qual outras formas de racismo. Isso não quer dizer que ele seja mais ou menos grave que outras formas de ódio e preconceito, mas sim que ele demanda um outro tipo de análise. Isso implica o fracasso de explicações tradicionais do passado que, por exemplo, tentaram explicar o fenômeno como mais um diversionismo ou manipulação das elites para canalizar a raiva do povo contra um bode expiatório. Não que esse aspecto estivesse ausente, mas ele deixa de captar o essencial. Mais ainda, com isso não se pode captar o porquê, tanto no passado, como no presente, setores da esquerda à direita do espectro político flertam com o que Jean Amery chamou de “antissemitismo virtuoso”, a saber, defendem ideologias que se pretendem contestadoras do status quo mas que são eminentemente reacionárias. Isso nos leva ao ponto essencial, a saber, o fato de que o antissemitismo tem a aparência de uma “crítica” ao capitalismo. Crítica essa falsa e tosca, mas que nem por isso deixou de ter graves consequências se pensarmos na ideologia nazista que defendia o bom capital “ariano e produtivo” contra o nefasto capital “judaico, financeiro e parasita”.
Dito de outra forma, a leitura de Postone sobre o antissemitismo moderno vai além de uma crítica da aversão aos judeus enquanto tais. Ela se liga diretamente ao problema da crítica à economia política, da crítica das formas sociais do capitalismo, o que reforça seu interesse e atualidade. Para Postone “Quando se examina as características específicas do poder atribuído aos Judeus pelo antissemitismo moderno – abstração, intangibilidade, universalidade, mobilidade – é impressionante que as mesmas sejam todas características da dimensão de valor das formas sociais analisada por Marx.” A dominação abstrata do capitalismo, isto é, o fato de que algo abstrato como o valor estabelece os elos sociais e dá o último sentido da vida, é personificada nos judeus que, ademais disso, tal como o valor também são vistos como intangíveis, móveis e universais. Tal ideia de universalidade é importante para explicar por que o antissemitismo se transforma numa projeção universal sobre os judeus, inclusive onde eles não existem. E isso é o que explica porque o antissemitismo (tal qual a islamofobia, mas de outras formas como sugerimos) pode ocupar o lugar de uma ideologia global. A irrazão da totalidade social é “racionalizada” na ideologia antissemita e não por outros motivos todo propagandista antissemita tem a pretensão de ser um “teórico”. Neste preciso sentido, independentemente do fato de que isso fosse ou não intencional em Sartre, há uma correlação nada casual entre aquilo que ele denuncia como a projeção cristã dos judeus como deicidas, com as projeções posteriores dos judeus como artífices ocultos dos males modernos: em ambos os casos, trata-se de um desconcertante e nefasto poder sobre-humano e universal.
E atualizar Postone, a meu ver, seria fazer notar que a crise global da sociedade da mercadoria e do valor criam o pano de fundo para um novo retorno do antissemitismo. Este último oferece psíquica e socialmente um ritual de demonização do abstrato projetado sobre os judeus, apenas para que tudo continue como está. Afinal, a abstração capitalista não é uma escolha (ao menos enquanto não se supere as formas sociais vigentes), mas sim algo que decorre da necessidade do mundo da mercadoria tornar comensuráveis e quantitativamente comparáveis todos os objetos e planos concretos da vida. Ou seja, tudo precisa ser reduzido ao denominador comum do dinheiro. Daí que o antissemitismo postule que os judeus devem expiar um pecado do qual todos, sem exceção, são “culpados” pelo mero fato de reproduzirem no seu dia a dia determinadas relações sociais que seriam impossíveis sem a efetividade da abstração. E na medida em que tais relações sociais mostram seu esgotamento, cresce a tentação de se transferir aos judeus de forma mais ou menos explícita o ônus de tal encalacrada.
A assim chamada financeirização recente do capitalismo joga ainda mais lenha nessa fogueira. Sendo ela mesma uma consequência da tentativa de o capital ganhar tempo dada a crescente dificuldade de valorização via exploração do trabalho vivo, a financeirização é tomada como expressão da mera ganância de financistas que estariam bloqueando o caminho “virtuoso” do capital “produtivo”. A tendência do capital de se desdobrar em formas cada vez mais abstratas, se autonomizando crescentemente em relação da produção concreta, faz com que o fetiche atinja sua expressão mais absurda em que a mera posse de dinheiro parece ter a capacidade de multiplicar a riqueza a partir “do nada”. E o fato da criação desmedida daquilo que Marx chamou de capital fictício ter virado o próprio modus operandi sistêmico do capitalismo pode se misturas com as pechas atribuídas aos judeus: algo fictício, artificial, sem lastro “concreto”, apátrida e com poderes infinitos de expansão a partir do “nada”. Cria-se assim o clima para que a vertigem e o mal-estar social causados pelo capitalismo globalizado reacendam a desconfiança diante daqueles sempre suspeitos de agirem de forma perniciosa e complotista. Isso reaparece em falas como a do ex-premiê da Malásia de que os muçulmanos deveriam se unir contra “os judeus que dominam o mundo por procuração”, ou ainda no frenesi da esquerda à direita contra o bilionário judeu George Soros. Um capitalismo cada vez mais ficcionalizado, abstrato e fetichista vem acompanhado de um reforço da visão fetichizada dos judeus.
Por fim, e ainda continuando com Postone, um último ponto. Os supostos poderes secretos e abstratos dos judeus estão também na raiz do mito do Judaísmo (hoje se diz Sionismo…) Internacional apátrida, responsável não só pelo capitalismo, mas também por outras manifestações da modernidade como o socialismo, ou ainda por expressões culturais e intelectuais tidas como “estrangeiras” e destruidoras de costumes tradicionais, como, por exemplo, foi o caso da psicanálise quanto esta surgia. Tal mito seria alimentado não apenas pela abstração econômica imputada aos judeus, mas também pela própria forma política abstrata de constituição dos Estados-nação europeus. A alegação de que se estava forjando nações que asseguravam garantias genéricas e impessoais a todos se revelaria fictícia para Postone. Como indivíduos dotados de uma cidadania abstrata e desencarnada, os judeus seriam vistos como corpo estranho e sem vínculos reais, como um grupo social que expressava o negativo de nações que buscavam se afirmar. Aqui, também, a personificação dos judeus como o abstrato carreava contra eles a hostilidade de sociedades que buscavam num pretenso chão nacional concreto o fundamento de si. O nazismo levaria ao extremo esse culto do concreto, baseando a arianização alemã na afirmação biologizada e autóctone do Blut und Boden (Sangue e Solo). Ora, em tempos como os nossos em que voltam os identitarismos nacionais e a xenofobia, temos outro prato cheio para a reafirmação do antissemitismo.
- Dialética do Esclarecimento
Já sobre a “Dialética do Esclarecimento” de Adorno e Horkheimer eu gostaria de reter apenas um aspecto que creio ser bastante pertinente. Na passagem sobre o antissemitismo eles debatem a questão do “ticket”, a saber, de embalagens prontas, de rótulos que são característicos da indústria cultural, mas que acabam por ter uma abrangência bem mais ampla do que a esfera do consumo em si mesma. Os indivíduos, como que mimetizando a estereotipia da produção mercantil, se tornam cada vez mais suscetíveis aos slogans, aos esquemas pré-fabricadados, às etiquetas que passam a também povoar a esfera das relações interpessoais e das posições políticas. Tal como nas exigências de consumo das mercadorias, a experiência concreta e reflexiva com o objeto se dissolve nas sensações de gratificação e identificação baseadas no clichê e naquilo que eles chamavam de uma “recepção ávida” e sempre reiterada. Com isso, conforma-se o que os autores qualificaram como a mentalidade do “ticket” antissemita, mentalidade de padrões já prontos e fechados, onde se corrobora e cristaliza aquilo que já se sabe e sente de antemão.
A atualidade desse ponto reside na facilidade com que hoje nos debates sobre Israel/Palestina existe um “ticket” antissionista que serve em muitos casos como salvo conduto para a repetição “higienizada” de um conjunto pronto de estereótipos antissemitas, alguns dos quais já comentados aqui. O significante “sionista” não apenas é prontamente rechaçado com o mal em si, como acaba por ser definido de forma abstrata e opaca para nele caberem todo o tipo de significados e projeções negativas. Por exemplo, quando no começo deste século centenas de milhares de negros sudaneses foram massacrados ninguém fala que foi o nacionalismo árabe e menos ainda os árabes como tais que cometeram tal crime, mas sim o governo/movimento/partido de plantão (isso é claro, nos raros momentos que alguém lembra do Sudão). Já no caso do sionismo, considera-se que é o movimento nacional dos judeus como um todo e enquanto tal que comete o crime X, Y ou Z e que agora está massacrando os palestinos em Gaza. A mediação entre Estado, governo e movimento nacional deixa de existir, e com isso se abre caminho para a culpabilização da imensa maioria dos judeus como tais cuja relação com Israel e o sionismo não é uma mera opção ideológica de plantão, mas sim está calcada em questões históricas e pessoais bem mais profundas. Questões essas que valem inclusive para muitos dos judeus que repudiam a ocupação militar e esta guerra insana conduzida por Netanyahu que já exterminou tantos civis palestinos. Enfim, a questão aqui em jogo não é o truísmo de que o sionismo como todo nacionalismo pode e deve ser criticado como tal. Mas sim se perguntar por que os judeus como uma nação concreta provocam um rechaço imediato em muitos. E aqui cabe a ponte com o que discutimos com Postone mais acima. Vistos os judeus como a personificação desenraizada do abstrato, seu nacionalismo concreto e enraizado só pode causar espanto, fazendo com ele seja definido de forma abstrata e mistificada, sendo ainda adjetivado como algo nocivo e artificial desde sua essência. Não à toa um dos best-sellers da eclética família antissionista de setores da esquerda à extrema-direita é o livro de Shlomo Sand cuja tese é de que os judeus seriam um “povo inventado”(?!)…
Mencionemos aqui um outro exemplo para onde pode nos encaminhar o “ticket” antissionista. Não raro, o termo sionismo é identificado diretamente ao nazismo, lamentando-se ainda de forma “séria” que os judeus “não teriam nada aprendido nada com a lição de Auschwitz”. Para além da falsificação grotesca de equiparar o nazismo justamente ao movimento que acabou por ser, para bem ou para o mal, a única resposta histórica viável a ele para muitos judeus, e para além da estupidez de se afirmar que Auschwitz de alguma forma possa ter sido uma “lição” (alguém por acaso dirá que a opressão aos curdos e outros povos em países muçulmanos ocorre pelo fato de os muçulmanos não terem aprendido suficientemente as “lições” do colonialismo e do imperialismo?) temos aqui um outro problema. Notemos a lógica. Se o sionismo é nazismo, o significante “sionista” se equipara ao significante “nazista” que significa nada menos que o mal absoluto da civilização. Ao mesmo tempo, sabemos que com nazista(sionista) não se discute, mas sim se destrói. No limite, e com o qualificativo de que os judeus como um todo e enquanto tais foram maus (ou bons?) alunos da barbárie nazista e que estariam agora a repetindo, chegamos à constatação de com nazista(judeu) não se discute, mas sim se destrói. Conscientemente ou não, tal percurso tortuoso permite alguns ainda “racionalizarem” um desejo de aniquilação de Israel e de genocídio dos judeus tal qual presente no Hamas e no Eixo da Resistência. Sintomaticamente, parte desses não veem nenhuma contradição em cobrar uma posição dos judeus de “ruptura total com o sionismo” ao mesmo tempo em que ratificam o massacre antissemita do Hamas em 7 de outubro. Ou seja, é como dizer “te convido para vir comigo, mas se você for morto, problema seu, capaz ainda de eu justificar a tua morte”. Ou bem temos aí a pura esquizofrenia, ou então tal convite não era um convite de fato, mas uma sim algo que visava provocar o distanciamento e assim corroborar a hostilidade que já se tinha desde sempre contra os “sionistas”.
Mais uma vez precisando as coisas aqui. É óbvio que o sionismo “realmente existente” do atual governo israelense é uma mistura abjeta de fascismo, fundamentalismo judaico e racismo aberto contra os palestinos. E tampouco se pode negar que em nome do sionismo crimes e violências foram cometidos no passado. Mas ou bem o critério de demarcação que é imposto ao nacionalismo dos judeus é universal, isto é, extensível a todos os nacionalismos, o que seria uma posição legítima e mesmo desejável, ou bem ele indica uma singularização duvidosa do sionismo, para dizer o mínimo. Pois afinal o nacionalismo árabe “realmente existente” também é o Assad na Síria ou então a monarquia semi-escravista do Qatar, assim como o nacionalismo “realmente existente” dos palestinos é o Hamas. Isso anula como um todo e como tais a legitimidade do nacionalismo árabe e palestino? E porque então só o sionismo que merece tal veredito de ilegitimidade in totum? Em especial na esquerda onde se faz com razão a separação entre o “socialismo realmente existente” que passou pelos crimes de Stalin e Pol Pot e o ideal de socialismo que ainda se compartilha hoje, tal cuidado é o mínimo que se deveria ter.
Tudo isso nos leva de volta ao problema do “ticket” de Adorno e Horkheimer. Tentando atualizar a questão, creio que a mentalidade de “ticket” hoje se reforça tendo como base material o processo generalizado de individualização e atomização que acompanha a desagregação do antigo mundo do trabalho. Os indivíduos de esquerda, assim como a sociedade em geral, não são poupados da dinâmica social neoliberal que empurra a todos a se portarem como “empreendedores de si”, buscando “valorizar seu capital humano” em meio a uma concorrência que se dá em espaço cada vez mais exíguos. A tendência a transformar as pessoas em sujeitos-mercadorias que se faz presente em todos os nichos – aí inclusos os meios culturais, artísticos e acadêmicos em que a esquerda tem forte presença – traz à tona a insegurança e o ódio irrefletido aos outros que se desdobram a partir de um darwinismo social objetivamente determinado. Mais ainda, este processo é amplificado pelo mundo virtualizado da internet que permite a multiplicação de “indústrias culturais de si mesmo” onde a disputa por visibilidade e a autopublicidade emulam quase que diretamente a lógica mercantil da propaganda de determinados “tickets” ou etiquetas prontas. Não à toa que será nas redes sociais em que a mentalidade do “ticket” se manifeste de forma mais gritante. E, também, não é à toa que nelas a difusão de motivos antissemitas atinja níveis tão intensos. No limite degradado que por vezes chega o debate brasileiro, há aqueles que acham que podem alegremente trocar a expressão “judeus ratos” por “sionistas ratos” e achar que ninguém percebe aí um chavão clássico da podridão nazista e antissemita. Não seria essa a mesma podridão de alguém que, ao invés de se referir diretamente aos negros como macacos, dissesse que o panafricanismo é um “nacionalismo de macacos”? Eis a cretinice de certa “narrativa” antissionista que só alguém muito desonesto ou distante da realidade não pode ver.
. Em síntese, o processo de mercantilização arraigada da vida e de isolamento social de nosso tempo reabre as portas para uma das facetas clássicas do antissemitismo: o de um ressentimento tipicamente pequeno-burguês. Mas mais importante ainda, a compra do “ticket” antissionista definido da forma que tentamos expressar mais acima, denota que parcelas da esquerda reatam com outra faceta crucial do antissemitismo, a saber, a projeção inconsciente nos judeus de um ódio contra si mesmo, da transferência de uma culpa que todos carregam intimamente, culpa esta que se sente a necessidade de se despejar no Outro. Mais precisamente, dado o fato de que a abstração da mercadoria e do capital é cada vez mais internalizada como o horizonte subjetivo inarredável, mais abre-se espaço para que o sofrimento real que este horizonte carrega procure alívio através das projeções sobre os judeus como representantes do valor e da dominação abstrata do capital.
6- Central, me parece, e que se agravou ainda mais com esta nova etapa ultradestrutiva da guerra entre Israel e a Palestina é a instrumentalização do antissemitismo e da islamofobia para as mais diversas posições políticas internos ou externos a um determinado país. Como tratar e quem sabe achar saida politica para este problema?
Creio este ser um tema muito importante e vivo, mas que, por outro lado, é muito mal discutido. Em primeiro lugar, o problema da instrumentalização faz parte da própria essência do que é a política nos dias de hoje. A política seja como espetáculo, seja como técnica de governo, ou ambos, se confunde com a própria instrumentalização de ideologias, medos e ressentimentos. Nesse sentido não é de se surpreender que tanto o antissemitismo quanto o racismo contra os palestinos (como a islamofobia em sentido mais amplo) sejam tão instrumentalizados. Mas por isso mesmo, é preciso de cara criticar a posição daqueles que só falam de cada um dos tipos de ódio social quando é para denunciar a sua instrumentalização. Na prática tal posição objetivamente serve para negar ou minimizar a vigência seja de um seja de outro preconceito. E um olhar minimamente atento ao problema nos mostra facilmente que o motivo que faz com que tanto o antissemitismo quanto a islamofobia sejam tão largamente instrumentalizados é o fato de que são fenômenos muito reais, que mexem com afetos e repulsas, e que estão incrustrados de diferentes maneiras na própria cultura do Ocidente ao Oriente. Ironizando um tanto, se ninguém instrumentaliza o preconceito contra os suecos ou finlandeses, é porque não existe nem “suecofobia” nem “anti-finlandismo” como coisas relevantes, ou seja, uma situação muito diferente dos dois tipos de preconceito que ora estamos debatendo nessa entrevista. Desta forma, o combate à instrumentalização só pode ter êxito dentro de uma visão mais ampla que dê a devida importância e espaço para a crítica ao antissemitismo e à islamofobia.
No caso da instrumentalização do antissemitismo, é notório que ele é usado pelos apologetas de Israel (e por tabela dos EUA) para protegê-lo das críticas à sua condução na guerra. Mas o problema vai bem além disso, pois vemos uma extrema-direita no Ocidente que ao mesmo tempo em que abraça uma visão de mundo conspiratória e de crítica ao “globalismo” onde não faltam elementos antissemitas explícitos, faz juras de amor à Israel e se pronuncia oportunisticamente agora contra o antissemitismo. É o caso de Le Pen, Orban, Meloni, do Trumpismo e do próprio Bolsonarismo, assim como de “personalidades” da extrema-direita como Elon Musk. No caso, o sentido maior da instrumentalização do antissemitismo é abraçar Netanyahu para melhor se posicionar na cruzada global contra imigrantes, refugiados e desterrados, cruzada essa tingida de islamofobia. Há ainda nos casos específicos de Trump e Bolsonaro o componente evangélico. Em boa medida aqui trata-se de uma defesa de Israel não como lar nacional judaico, mas como profecia bíblica que antecede a conversão forçada dos judeus e muçulmanos da região para Jesus. Ou seja, trata-se de uma defesa antissionista do sionismo, que por motivos evidentes esposa uma retórica de crítica ao antissemitismo que não tem nada a ver com uma solidariedade aos judeus, muito pelo contrário. E não nos esqueçamos também que o filossemitismo, a saber, o discurso aparentemente apologético sobre os judeus, quase sempre é uma forma de antissemitismo também. Pois aqui repete-se a falácia de supostas qualidades e poderes especiais e mistificados dos judeus, dos quais neste caso se pretende estar próximo.
De outro lado, há também uma instrumentalização da causa palestina e da Islamofobia que deve ser tematizada. Isso já era notório antes da guerra em posições. por exemplo, como a dos aiatolás iranianos que negam direitos de mulheres e homossexuais com o argumento de que se trataria aí de um “complô sionista” contra o Islã. De uma forma geral, é certo que no mundo muçulmano em geral busca-se canalizar a solidariedade legítima das populações aos palestinos para as agendas nada legítimas de governos, elites e mídias, lançando-se mão em maior ou menor grau de teorias conspiratórias e antissemitas. O caso mais saliente é o de Erdogan que ao mesmo tempo em que posa como campeão mundial da causa palestina, está neste mesmo momento bombardeando incessantemente os curdos, além de acabar de ter organizado com Azerbaijão a limpeza étnica de armênios. E de especial importância também é a hipocrisia de Putin cuja crítica a Israel e ao Ocidente na guerra de Gaza serve de cobertura perfeita para desviar a atenção de seus ataques continuados à Ucrânia.
Mas voltando ao problema posto inicialmente. Quando se discute o antissemitismo apenas para denunciar sua instrumentalização, ou ainda quando se aborda a causa palestina e a islamofobia com o mesmo objetivo, qual o efeito prático disso? Não se trata apenas de um “erro” de avaliação, mas sim algo que corrobora a instrumentalização que se pretende criticar. Nos explicamos. Todo indivíduo que é submetido de forma sistemática ao racismo e ódio social precisa obrigatoriamente criar mecanismos de defesa psíquicos para que o seu convívio social seja possível. E se o antissemitismo e islamofobia crescem, a capacidade das suas vítimas escolherem quem são seus verdadeiros aliados naturalmente diminui na medida em que são acionados os mecanismos de defesa. Se alguém chega e diz que o antissemitismo ou a islamofobia não existem, ou que são pouco importantes, ou que só servem para instrumentalização de certas agendas políticas, é muito provável que as pessoas que sentem na pele o preconceito prefiram uma narrativa que, mesmo que instrumentalizada e hipócrita, dê guarida e vocalize o mal-estar sentido por judeus, palestinos, muçulmanos etc. E não se trata aqui de que as pessoas que sofrem tal mal-estar necessariamente “não sabem” do oportunismo generalizado. O problema é que se tais pessoas não encontram respaldo naqueles em que normalmente acreditam, elas são tentadas a migrar para quaisquer narrativas que afirmam combater o preconceito que elas sentem na sociedade. Ou seja, as pessoas procuram muitas vezes o instrumento disponível diante do ódio contra si, e tal instrumento muitas vezes é oferecido por quem pratica a instrumentalização.
- Sobre a eventual particularidade do Estado de Israel é interessante retomar a hipótese de Robert Kurz que sustenta que o este Estado teria um caráter duplo e excepcional em relação a todos os outros. O que você acha dessa tese? Por outro lado, será que não poderíamos invertê-la? E sustentar que no que resultou o Estado de Israel demonstraria que o Estado como forma social geral própria de sociabilidade do Capital deve efetivamente ser extinto, superado, para que haver a possibilidade de um pós-capitalismo? Isso baseado não nas origens desse Estado, como um suposto pecado original, que é a tese da maioria da esquerda mundial, mas no resultado dele, na fuga para a frente que se pode ser imputada na extrema-direita que há muito está no seu comando, tem como fundamento a Razão de Estado ela mesma, e nisso não difere muito de todos os outros Estados do mundo que também devem ser, em última instância – mas não tão última assim – serem todos destruídos.
Acho que aqui há várias de camadas de debate, vamos se ver se conseguimos abordar cada uma delas. Antes de entrar na hipótese de Kurz e para melhor debater seus méritos e deméritos, insisto que, ao menos no caso específico entre Israel e Palestina, não há como escapar da questão nacional. Ou seja, temos aqui uma espécie de “anacronismo” ou “atavismo” que herdamos do século XX, mas persiste decisivo nesse século XXI. Independentemente das formas e arranjos político-territoriais concretos em que possa emergir uma paz futura, penso que ela jamais virá à tona mediante um internacionalismo abstrato que despreze as questões nacionais aí envolvidas. Isso não quer dizer, por outro lado, que o horizonte nacional e estatal não deva ser superado, também aqui. Essa perspectiva de abolição do estado-nação, como já disse, é inclusive a perspectiva que devemos ter como norte (eu apenas não usaria a expressão destruição do Estado-nação, mas sim sua superação, não por qualquer preciosismo conceitual, mas sim para evitar jogar ainda mais lenha em toda a lógica de destruição aqui debatida). Mas justamente por ser a questão Israel/Palestina uma questão sui-generis, penso que ela também implica uma dada dialética sui generis. Pois para que uma perspectiva emancipatória pós-nacional e pós-estatal possa aflorar, é preciso antes algum tipo de reconciliação entre as duas nacionalidades seja antes colocado em marcha, reconciliação esta que dele levar em conta o caráter ao mesmo tempo assimétrico e simétrico do conflito que indiquei numa questão anterior.
A afirmação do nacional deve ser vista então como a condição prévia da sua própria negação. Neste enquadramento, nem o sionismo nem o nacionalismo palestino seriam vistos como algo que deve durar indefinidamente. Mas, por outro lado, o que significa, hoje, a tentativa de negar como tais tanto um quanto outro? O problema que indiquei mais acima de boa parte da esquerda transformar a crítica à Israel num rechaço ao sionismo como tal, além do namoro que certa retórica antissionista pratica com temas antissemitas, é que tal rechaço objetivamente torna a solução do conflito muito mais difícil. Por exemplo, a dificuldade que muitos judeus têm de criticar abertamente e duramente as ações de Israel tem diretamente a ver com o fato de que para eles o que se cobra não é apenas de criticar as ações de um Estado com o qual se identificam, mas sim a dificuldade de se inserir numa narrativa generalizada que exige a ruptura com sua própria nacionalidade. No mínimo, seria preciso levar à sério a desconfiança de muitos judeus em “romper com o sionismo” numa situação em que o antissemitismo cresce no mundo e em que o antissionismo “realmente existente” no Oriente Médio deixou muito claro o que tal ruptura significou no dia 7 de outubro. Ou não? Sintetizando. De um lado é evidente que para que algum entendimento com os palestinos possa avançar é preciso pôr fim ao sionismo “realmente existente”. De outro lado, a proposta de se pôr fim ao sionismo como a própria expressão de um lar nacional judaico é a melhor ajuda para que os judeus sejam empurrados para o sionismo “realmente existente”, ou pelo menos serem neutralizados por ele.
Voltando agora ao Kurz, creio que a visão de que Israel tem um caráter dual a meu ver está certa, mas a ideia da excepcionalidade é errada não em si mesma, mas sim nas consequências que ele daí tira. Primeiramente, o que seria tal dualidade? De um lado, Israel tem uma história particular por ser o país dos refugiados do antissemitismo global. A meu ver, isso não implica dizer que o sionismo tenha sido a “solução” para o problema da questão judaica que ainda persiste, nem tampouco que outras alternativas não pudessem ter sido melhores. Mas, justamente, nos deparamos aqui com o problema que aparece, por exemplo, em posições como a de Judith Butler e outros que jogam arbitrariamente o saudosismo de uma judeidade diaspórica e universalista contra o nacionalismo sionista. Todo o problema desse argumento é que ele tangencia o fato de que tal judeidade foi simplesmente esmagada pela história, como sabemos. Não por outros motivos, Israel, não sem grandes contradições e tensões, guarda para grande parte dos judeus do mundo um significado de regeneração da vida judaica que fora destruída tanto na Europa quanto no mundo muçulmano. Já o outro lado da dualidade indicado por Kurz é o fato de que Israel na época em que ele escrevia vivia todas as contradições decorrentes da implementação de sua razão de Estado em tempos de decadência global do capitalismo e dos próprios Estados Nacionais. Contradições essas que ao mesmo tempo – e ao contrário do que afirmam alguns de seus críticos – eram em grande medida também determinadas pelas consequências nefastas da ocupação militar e da opressão sobre os palestinos. A ideia de Kurz de que Israel poderia ser destruído não apenas por fatores externos, mas também por fatores internos (ou ainda por uma combinação de ambos), não apenas era correta como ela agora se mostra um elemento chave da conjuntura.
Desse ponto de vista, como encarar hoje o problema da dualidade? Creio que a ideia continua válida, mas ela precisa ser atualizada a partir da dinâmica da aceleração e do cenário de cruzada que se encaminha para a guerra global como indicamos. Isso se reflete nas tendências internas corrosivas da política israelense que colocaram no poder o governo que sabemos, tendências estas que ratificam hoje uma razão de Estado interna e externa que põe em xeque Israel como país de refúgio contra o antissemitismo global. Há assim uma relação direta entre a proposta de reforma judicial esposada pelas tendências fundamentalistas e messiânicas que querem impor uma ditadura teocrática, com a barbarização que se reflete nas intenções e ações do ataque à Gaza, bem como no aumento da colonização da Cisjordândia. A própria ideia de defesa de Israel contra os riscos reais que ele sofre se transforma no seu contrário a partir dos efeitos internos e externos da razão de Estado em curso. No cenário apocalíptico do mundo e do Oriente Médio, também a ideia de uma defesa consistente de Israel como lar nacional judaico, passa pela defesa incondicional da paz como a própria realpolitik. De outro lado, e aqui mora o nó da coisa, como o antissemitismo cresce como ideologia de crise frente à barbarização generalizada, também é reforçado o outro polo da dualidade, a saber, a solidariedade dos judeus com Israel naturalmente aumenta após o 7 de outubro e com o cenário possível de extensão para uma guerra generalizada no Oriente Médio. Assim, como já dissemos antes, a questão é de como impedir que essa solidariedade seja capturada pela razão de Estado em curso. Isso implica de um lado, uma posição clara de oposição a esta guerra, bem como de manifestar solidariedade aos palestinos. Mas para que isso seja possível, a questão de uma posição clara de repúdio ao antissemitismo é essencial, assim como o repúdio à política do Eixo da Resistência. A possibilidade dos judeus se contraporem à razão de Estado vigente em Israel é tanto maior quanto eles estiverem seguros de que o que está se propondo como alternativa não é o fim do seu Estado. Pois para os judeus, sobretudo na conjuntura atual da região e do mundo, é impossível como pretende certa esquerda levar a sério a ideia de que Israel – e apenas Israel – é um estado ilegítimo que merece perecer (o que automaticamente faz com que todos outros sejam tomados como estados legítimos que merecem viver para sempre).
Isso nos leva ao problema da excepcionalidade aonde Kurz incorre num problema simetricamente oposto ao que acabamos criticar de grande parte da esquerda. Se a ideia de excepcionalidade for descrita como o estatuto sui-generis de Israel, a saber, a questão da dualidade que acabamos de discutir, eu endossaria a ideia. Mas o problema é que aparece em Kurz implicitamente a ideia de que, dada esta excepcionalidade, Israel seria o último dos Estados que mereceria ser superado. O problema aqui não é apenas a de que Israel teria um privilégio excepcional, mas também o fato de que tal posição é contraditória com aquilo que era, salvo engano, a própria posição de Kurz. Pois quando falamos num horizonte estatal e pós-nacional, isso só pode vir ligado a uma superação das formas sociais do valor, da mercadoria etc. Sem isso, a manutenção das relações sociais capitalistas exigirá um dispositivo de controle externo que demanda obrigatoriamente a existência da figura do Estado. Por isso, um eventual horizonte de abolição do Estado só pode vir em conjunto com um movimento global de abolição das formas sociais capitalistas. Nesse sentido, colocar Israel no começo ou no fim da fila não faz qualquer sentido a meu ver. Adicionalmente, creio que também há uma lacuna grave em Kurz. A ideia de excepcionalidade de Israel é acompanhada da sua não tematização da questão nacional palestina. Ou no mínimo, como ele não aborda o problema, ele tende a resvalar para uma posição indefensável que é a de subordinar o nacionalismo palestino ao nacionalismo árabe de forma mais ampla. Essa era a posição conhecida de Golda Meir que negava um nacionalismo palestino autônomo, no mesmo passo em que Yasser Arafat negava a nacionalidade judaica (os judeus para ele seriam apenas um grupo religioso). Ambas as posições falsas. Enfim, é evidente que no confronto com o sionismo e Israel a questão palestina se autonomizou e deixou de ser um mero componente do nacionalismo árabe. Daí que quando Kurz critica a opressão de Israel sobre os palestinos, essa opressão acaba por ser algo genérico, e não uma opressão nacional determinada cuja superação demanda soluções também elas nacionais.
Isso me leva de volta para incontornabilidade do problema nacional, mais precisamente de como reconciliar o irreconciliável, isto é, dois pleitos e narrativas nacionais em direta oposição. Creio que há uma dimensão desse debate que raramente é tematizada adequadamente. Tomemos aqui a narrativa sobre 1947/1948 que se tornou majoritária na esquerda como o “pecado original” de Israel que você menciona. Não tenho como entrar aqui entrar em todas as minúcias desse debate. Objetivamente, do ponto de vista palestino, claro que o resultado da guerra foi a sua tragédia existencial (Nakba) que criou o problema dos refugiados, ou ainda que para eles, o sionismo é um projeto colonial. Mas é claro que, também, essa narrativa é unilateral e problemática. Em primeiro lugar, para os judeus, 1947/1948 era uma guerra existencial também na qual o que estava em jogo não era um desejo de exploração e despossessão tal qual o das potências coloniais, mas sim a necessidade de um lar nacional diante do antissemitismo. E a impossibilidade de um acordo ou uma solução pacífica não é responsabilidade única do sionismo, mas também do nacionalismo árabe, sem falar no papel da Inglaterra. Como afirma o intelectual palestino Rashid Khalidi, a partir dos anos 1930 já não havia qualquer possibilidade de encaminhamento do conflito que não a guerra. E se o sionismo importou da Europa uma visão racista e orientalista sobre os árabes, o nacionalismo árabe muito cedo importou o antissemitismo do mesmo continente. O fato de que na guerra de 1947/1948 o equivalente ao Ben Gurion do nacionalismo palestino tenha sido o Mufti de Jerusalém Hussein que tivera relação íntima com Hitler e com o nazismo ou ainda o fato de que a liderança dos países árabes falava em uma “guerra de aniquilação” mostra o que poderia ser a derrota dos judeus na guerra. Assim, se a narrativa sionismo mainstream sempre trabalhou com uma visão idílica e fantasiosa de que os judeus apenas reagiram defensivamente no contexto da guerra de 1947/48, não é menos distorcida a visão unilateral de muitos autoproclamados experts na esquerda da história do conflito que ocultam qual era a predisposição dos árabes.
O ponto acima é, ou deveria ser, patrimônio comum de uma discussão verdadeira sobre o tema de 1947/48. Mas há aqui ainda um outro plano da questão que não se tematiza e que tem a ver com o próprio embasamento histórico do pleito nacional para palestinos e judeus. No primeiro caso, o que sustenta a legitimidade do pleito é a ideia de se trata de um povo autóctone, indígena, ligado essencialmente à terra e que enfrenta o que para eles é o puro colonialismo de Israel. Já no caso dos judeus, seu pleito nacional se legitima justamente por uma história marcada pela ausência de qualquer autoctonia, de qualquer indigeneidade, de qualquer conexão territorial fixada. Logo, a dificuldade aqui é de como reconciliar esse verdadeiro curto-circuito. Claro que uma resposta prática a isso não é nada simples e não existe nenhuma fórmula pronta e acabada. Tal resposta só pode ser dada na prática, a partir de um entendimento e reconhecimento real entre os povos. A única coisa que me parece certa é que jogar um pleito nacional contra o outro apenas serve para eletrificar ainda mais o curto-circuito e perpetuar o impasse. E é comum que a narrativa decolonial que hoje virou dominante alimente esse curto-circuito. Vamos aqui por partes. É evidente que não é possível haver solução na medida em que não haja a superação da realidade colonial de ocupação militar que o Israel impõe aos palestinos. Mas a ideia de que tal dimensão colonial é “intrínseca” e que por isso não pode jamais ser superada sem o fim do próprio sionismo é falsa. E isso não por uma petição de princípio ou wishful thinking, mas sim por uma razão bastante material. A existência de um lar nacional judaico na região não torna obrigatório um processo de colonização da mesma forma em que, por exemplo, a dominação francesa no Magreb para a qual a colonização e a exploração econômica eram condições sine qua non.
A menos, é claro, que se parta aqui do argumento de que apenas uma das nacionalidades tem legitimidade para se afirmar na região. Mas aí caímos num outro problema que é o de transformar um argumento legítimo – a autoctonia dos palestinos – como base de um argumento ilegítimo que é a negação da nacionalidade judaica. Pois quando tal reivindicação é contraposta, sem mais, à não-autoctonia dos judeus para onde a discussão pode ser levada? Os judeus então seriam uma não-nação, seriam um povo “abstrato” contra a legitimidade palestina de um povo “concreto”? Cremos ter mostrado ao longo dessa entrevista onde essa pecha de “abstrato” e “artificial” sobre os judeus têm chegado. E aqui chegamos na aporia de certo decolonialismo que ao buscar descrever quase tudo na base da oposição colonialidade/decolonialidade, na melhor das hipóteses joga a questão judaica para debaixo do debate ou na pior delas acaba voluntariamente ou não corroborando o clima geral de aversão aos judeus. Adicionalmente, temos outro problema que daí decorre. Qual o estatuto dos judeus mizrahim que hoje são mais da metade dos judeus israelenses e que são autóctones do Oriente Médio e do Norte da África? Claro que não foram os palestinos que causaram o seu exílio, mas sim os países árabes e o Irã, mas isso mostra mais uma vez o curto-circuito de se querer impor aos judeus e o sionismo a pecha negativa de “não-autóctones”.
- Por fim, me parece cada vez menos possível sustentar a posição clássica de Adorno – que fazia todo sentido na sua época – à saber, a de que não caberia à teoria tentar abrir ou imaginar perspectivas mais concretas para o futuro, e sobretudo o presente. Embora apareça imediatamente como uma situação apocaliptíca sem saída outra que não a mais destrutiva possível, você acha que é efetivamente viável achar ou imaginar uma saida do impasse com no qual o conflito se constitue? E indo mais além, haveria saídas utópicas e pós-capitalistas para (ou através) esse conflito?
Tentando responder à questão em diferentes planos e depois tentando interligá-los. Como tentamos argumentar, não há saída fora de uma perspectiva de entendimento nacional entre israelenses e palestinos, entendimento que deverá lidar com aquilo chamei de dimensões assimétrica e simétrica do conflito. E daí vem o drama que, a princípio, um olhar imediato e “realista” implica dizer que não há qualquer solução pois os meios para que tal entendimento estão hoje totalmente ausentes ou bloqueados. Meios inclusive físicos que já faltavam antes do 7 de outubro, pois a ocupação militar de Israel, depois muro de separação na Cisjordânia e o bloqueio á Gaza tornaram o contato entre israelenses e palestinos quase inexistentes. Ademais, não sabemos quando, como e se vai terminar essa guerra, seja em Gaza, seja no Oriente Médio como um todo. Toda a dinâmica atual, por motivos óbvios, cria uma lógica tal qual descrevia Carl Schmitt, de amigo x inimigo, de impossibilidade de qualquer ponte a ser estabelecida. Em outras palavras, a aceleração do conflito e suas pulsões de morte fazem com que o impasse atinja o seu extremo, o seu clímax. Mas aí talvez justamente podemos antever alguma luz no fim do túnel. Sendo aqui “hegeliano” e sustentando a ideia de que a verdade mora nos extremos: a dimensão eliminatória e de catástrofe, que pesa com força bem mais saliente sobre os palestinos, mas que também ronda os israelenses, mostra que temos aí de forma inescapável um destino entrelaçado. Assim, do extremo da desesperança e da hostilidade talvez possa surgir uma outra história. Claro que aqui estamos falando ainda de forma abstrata e idealista, mas acho que uma saída só pode passar por aí mesmo. Olhando o problema mais concretamente, posso falar apenas de forma muito limitada a partir do que tenho algum contato. O coletivo Judias e Judeus pela Democracia- SP que participo tem acompanhado e divulgado as iniciativas do coletivo Standing Togheter de judeus e palestinos que vivem em Israel. A despeito de todo o clima de enorme perseguição às vozes dissonantes dentro do país, eles têm conseguido crescer e fazer sua mensagem contra a guerra e a ocupação militar crescer.
Outra dimensão do problema é a questão da globalização do antissemitismo e da islamofobia. E aqui cabe ressaltar um ponto. Há uma dificuldade aqui prévia que reside no fato de que hoje existe uma islamofobia grande entre os judeus no mundo, tal como há grande antissemitismo entre muçulmanos. Não serve de nada aqui negar tal problema ou minimizá-lo e é preciso encará-lo de frente pelos motivos que já indicamos. Mas aqui deve entrar um ponto crucial. Certa vez, Freud, quando perguntado por que ele não combatia mais assertivamente o antissemitismo europeu em seu tempo, respondeu corretamente dizendo que na verdade essa questão deveria ser endereçada não a ele como um judeu, mas sim aos não-judeus. Essa ideia permanece totalmente válida no que diz respeito às duas formas de ódio social aqui tratadas. E a espetacularização que temos visto sobre o tema é extremamente cômoda para quem não tem nenhuma dimensão pessoal ou existencial direta nele implicada. No limite, podemos ver a defesa de Israel como uma aliança de “valores judaico-cristãos contra o barbarismo terrorista árabe ou muçulmano”, ou ainda a defesa da causa palestina mediante uma aliança “cristã e muçulmana contra o segundo assassinato de Jesus pelos sionistas”. É de se pensar o que Freud pensaria da tradução do nosso atual mal-estar na civilização nessa mitologia. Pois tal querela na família monoteísta que em outros tempos pareceria pura superstição do passado, tende a ganhar força nesse tempo do mundo apocalíptico, liberando mesmo nos ateus irredutíveis e guardiões da razão toda sorte de crenças e crendices.
Por fim, a questão da saída utópica. Evidentemente, seria leviano subordinar as tentativas de solução aos problemas imediatos e concretos que estão colocados em Israel/Palestinos a tal saída. Mas isso não quer dizer, por outro lado, que não exista uma conexão entre as coisas. E tal conexão reside no que abordamos na primeira pergunta da entrevista, isto é, como abordar o problema da aceleração destrutiva que emana dos sujeitos automático do capital e das razões de Est
ado, aceleração cuja ideologia degradada se expressa no antissemitismo e na islamofobia. Não tenho como aprofundar o problema aqui, mas como já sugeri o problema de fundo está na crise da sociedade do valor e da mercadoria cuja ausência de respostas abre margem para os atalhos ideológicos mencionados. O que poderia sugerir aqui é que uma resposta ao problema deve ir além da crítica do valor tal qual conhecemos, pois mesmo que esta faça diagnósticos corretos, não consegue traduzir isso em propostas práticas e teóricas que apontem para alternativas efetivas para a sociabilidade vigente. Claro que isso não é nada simples. Mas um pensamento só pode dar frutos quando ele sai da toca e se apresenta para os problemas concretas de como a vida é reproduzida no dia a dia. A contradição entre a capacidade de produção de riqueza material e valores de uso de um lado, e a obsolescência da forma valor e do trabalho abstrato de outro, atinge o seu paroxismo. Temos aí um indício de que a vida poderia ser reproduzida de outra forma muito mais proveitosa e racional. Se isso não é garantia de nada, permite que ao menos centremos energia em pensar alternativas para a reprodução cotidiana da vida econômica e social. E em função do vazio que se deixa quando não apontamos para tais alternativas, só aparecem como “factíveis” as posições na esquerda que primam por uma administração cada vez mais caótica do existente e/ou então as posições que se baseiam em críticas truncadas do capitalismo e que na prática só servem para ratificá-lo com discursos pretensamente radicais. Críticas de certo demagógicas, grandiloquentes e falsamente imediatas, mas que ao menos servem como gratificação psíquica para parcelas desorientadas da esquerda.
Paz, Salam, Shalom – Daniel Feldmann, abril de 2024.