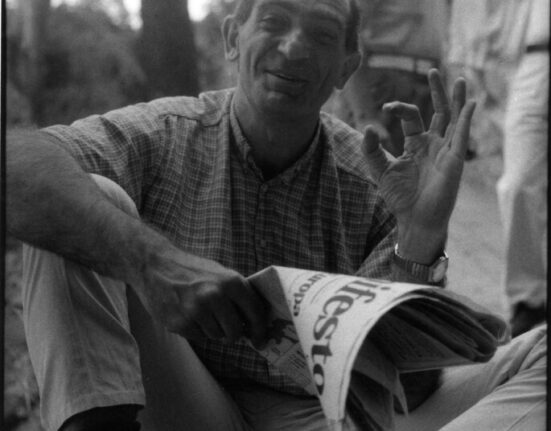Bruno Cava
Entre janeiro e março de 1991, Jean Baudrillard escreveu três artigos sobre o regime de produção de signos em meio à primeira Guerra do Golfo, que se seguiu à invasão do Kuwait pelo governo iraquiano encabeçado por Saddam Hussein, ocorrida em agosto do ano anterior. Publicados no Libération, os textos se distribuem pelos três meses decisivos da resposta militar à invasão iraquiana, pela coalizão de 35 países liderada pelos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido.
O primeiro texto de Baudrillard se chama “A guerra não acontecerá” (La guerre du Golfe n’aura pas lieu) e foi veiculado logo depois da autorização do uso da força pela ONU e duas semanas antes do desencadeamento dos primeiros bombardeios sobre as posições iraquianas.
Publicado em fevereiro, o segundo texto “A guerra está realmente acontecendo?” (La guerre du Golfe a-t-elle vraiment lieu?) aparecia no jornal parisiense já em plena e ruidosa Operação Tempestade no Deserto. Desse modo, era contemporâneo à massiva invasão terrestre e subsequente aniquilação do exército de Saddam.
Finalmente, “A guerra não aconteceu” (La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu) surgiu nas páginas do Libération semanas depois da aceitação por Saddam Hussein das resoluções da ONU e dos termos do cessar-fogo definidos pelo Conselho de Segurança, o que havia oficialmente encerrado aquela guerra.
Na recepção imediata dos textos, os adeptos da Escola Realista de Relações Internacionais descartaram a trilogia baudrillardiana sobre a Guerra do Golfo como mais do mesmo jargão pós-moderno, típico da filosofia francesa que floresceu no período posterior a 1968. Para eles, tal argumentação era absurda. A Guerra do Golfo era real como todas as outras guerras, nihil sub sole novum, o mesmo jogo das grandes potências como sempre, resolvido no entrechoque bruto de forças e narrativas. Como assim sugerir que a Guerra do Golfo não aconteceu? Aconteceu e muito, diziam tais realistas puros e duros.
Durante a primeira etapa da guerra, as forças aéreas coligadas chegaram a despejar bombas à taxa de quatro mil toneladas diárias, contra oito mil ton/dia pelos aliados no inteiro teatro operativo do auge dos bombardeios estratégicos da Segunda Guerra Mundial. No começo de fevereiro de 1991, um front com cerca de 500 km de comprimento, coalhado de tanques Abrams e helicópteros Apache, desferiu a devastadora manobra de varredura do deserto no sul do Iraque, apoiado pela supremacia aérea que naquele momento a coalizão havia obtido. Diante da abissal desproporção em números e tecnologias, sem nenhuma defesa do que vinha dos céus, as tropas iraquianas se desorganizaram e debandaram. Na dispersão, sempre o momento mais perigoso das batalhas, o que ocorreu pode ser descrito como “tiro ao pato”.
Somente na desabalada carreira ao longo da estrada para Basra, ao norte, foram mais de vinte mil soldados mortos, outras dezenas de milhares de feridos, milhares de tanques e blindados abandonados ou destruídos, pelo menos 100 mil iraquianos feitos prisioneiros. Números ainda mais impressionantes quando comparados com as fatalidades da coalizão: menos de trezentas, metade das quais em acidentes e fogo amigo.
Diante desse cenário bastante real, bastante duro, como o autor de Simulacres et Simulation poderia ter escrito num jornal de grande circulação que, ante a óbvia iminência da guerra em janeiro, ela não aconteceria (1º artigo)? Em fevereiro, quando a guerra havia começado, com fogos e manobras a olhos vistos, não estaria acontecendo (2º artigo)? Por último, quando já chegara a termo, em março, com a derrota completa de Saddam, no fundo não tinha sequer acontecido (3º artigo)?
A toda prova, não terá a Guerra do Golfo de 1991 acontecido?!
Sim e não. Depende do que se entende por acontecimento, tarefa em que as problematizações e os conceitos da filosofia francesa contemporânea tendem a ser agudos. Para as populações dos 35 países que integraram a coalizão multinacional para livrar o Kuwait, a guerra não era vivenciada como guerra. Era vivenciada como outra coisa, que já não poderia mais ser chamada simplesmente de guerra. Uma coisa nova que Baudrillard se propõe a explorar e explicar nos seus três artigos escritos a quente.
A Guerra do Golfo de 1991 foi a primeira a ser narrada em tempo real, através de canais de notícias 24 horas da TV a cabo. Logo nos primeiros bombardeios em Bagdá, os espectadores puderam acompanhar ao vivo e em cores, do conforto de suas poltronas, as cenas das explosões e da artilharia antiaérea iraquiana rastreando inutilmente os céus noturnos, atrás dos caças-bombardeios F-117 Stealth. Aquelas pareciam cenas tiradas do jogo Missile Command, para Atari. Numa das frequentes e badaladas coletivas de imprensa promovidas pelas forças da coalizão, se acompanhava do alto o lançamento de uma bomba de precisão até explodir uma ponte, enquanto por ela acabara de passar um veículo civil. O RP da aeronáutica americana brinca: “agora de outro ângulo, do retrovisor do carro!”.
Foi uma cobertura febril do que rapidamente ficou conhecida como Guerra-Videogame, a primeira de sua espécie na história do jornalismo. Três centros de gravidade narrativos aglutinaram o hype midiático da Guerra do Golfo, magnetizando as atenções: 1) a entrada em cena das armas high tech, como os caças furtivos e as munições inteligentes; 2) o desastre ecológico decorrente do incêndio dos poços kuwaitianos e do vazamento dos oleodutos; 3) a liberação do Kuwait, ao serem cumpridas as resoluções do Conselho de Segurança.
Nos artigos, Baudrillard reconta uma passagem da programação televisiva que ele considera emblemática. Num espaço quente durante as batalhas, uma ofegante equipe da CNN fazia a cobertura ao vivo, com transmissão pelo canal internacional a cabo. A certo ponto, devido à fumaça e ao estrondo, se desorienta e a seguir a câmera começa a buscar algum evento em curso, até enquadrar um outro grupo de jornalistas, que estava parado atrás de um muro. A repórter de microfone na mão e o cameraman, sem interromper a filmagem e a transmissão em tempo real, vão ao encontro do outro grupo. Quando chegam perto, a repórter pergunta: o que está acontecendo? O repórter da outra emissora então se volta a ela sobressaltado: estamos acompanhando vocês na CNN!
Uma das imagens mais icônicas da primeira Guerra do Golfo foi o pássaro encharcado de óleo. Praticamente toda matéria que abordava o desastre ecológico pontuava a narrativa audiovisual com o plano comovente do pássaro, representando o sofrimento da fauna e os impactos ambientais da guerra. O detalhe é que essa imagem tão famosa era de arquivo. Tinha sido reaproveitada da cobertura televisiva mais antiga do vazamento do superpetroleiro Exxon Valdez no Alasca, ocorrido uma década antes. Na medida em que as emissoras montavam as coberturas com imagens de outras emissoras, os editores inseriam o plano do pobre pássaro já tendo perdido qualquer registro da origem.
Não é que não houvesse uma guerra em andamento. Claro que havia, uma bastante real, bastante vívida para quem lutava nos fronts, os feridos e os parentes dos mortos. Mas a experiência das multidões de espectadores que recebiam as imagens pelo mundo não podia alcançar essa realidade, congestionado na camada da mediatização, tornada o único solo perceptivo e emotivo que podia ser pisado. Para Baudrillard, ocorria assim, de um modo sistemático, a neutralização da realidade da guerra na forma de um fluxo de imagens desatreladas do real, que se sobrepunham a ele como terreno da experiência.
De fato, naquela guerra, eram bastante raras as imagens do sofrimento humano, dos custos enormes em termos de vidas e infraestruturas. Escasseavam cenas sobre os mortos ou feridos iraquianos, e mais ainda quanto às perdas humanas da própria coalizão, que pareciam inexistir. Quando tais pedaços narrativos conseguiam entrar nas reportagens, eram montados como elementos secundários, com pouco apelo.
Ao mesmo tempo em que a guerra fora trazida para dentro das casas, transmitida segundo uma cobertura incessante e em tempo real, era vivida como a mais remota e desengajada experiência. Segundo o filósofo, se entrava e saía das imagens da Guerra do Golfo como quem entra e sai das imagens de um comercial televisivo. Não é que haveria uma aporia a resolver pelo jornalismo, Baudrillard dizia que era um novo regime de signos. Tínhamos ingressado numa nova era da guerra, a terceira, bem vindos à Hiper-Realidade.
A primeira era havia sido a mais longa, a era da Guerra Quente, em que o ser humano se engajava visceralmente nos conflitos, quando tinha a consciência de estar sendo decidido o destino da comunidade e de si mesmo. O sofrimento era experimentado como próximo e eminentemente pessoal.
Depois, a segunda era durou um pouco menos de meio século, compreendida entre 1946 e 1990, a era da Guerra Fria. A economia violenta das pulsões aqui vem sublimada no cálculo operacional de grandes instâncias impessoais e sombrias. Com a proliferação nuclear e a doutrina de emprego absoluto, a Mútua Destruição Assegurada é erigida à condição de teorema: todo choque sério entre estados-nações armados com bombas nucleares conduzirá inexoravelmente à fulminação certa e instantânea. Nessa lógica de dominó, as grandes potências estatais são constrangidas, pela natureza apocalíptica da possível guerra total, a conterem os seus apetites beligerantes, se autolimitando a conduzir guerras indiretas ou por procuração, de intensidade dosada, a fim de prevenir a escalada derradeira.
Com a primeira Guerra do Golfo, na ótica baudrillardiana, entrávamos decisivamente na terceira era, a era da Guerra Morta. Asséptica e automatizada, a sua realidade é rebatida no terreno da midiatização, que passa a ocupar o primeiro plano e se torna ambiente indispensável para o planejamento e a execução das operações militares. Com isso, o sistema de mediações da guerra dá um salto qualitativo e muda a natureza da guerra mesma.
Na primeira era, da Guerra Quente, a dimensão da realidade predomina sobre a da potencialidade. Nos períodos sem guerra em curso, a política continua contendo no âmago a matriz da guerra, que se encontra apenas temporariamente abafada, ao modo de uma latência logo ali, nas esquinas da paz. Pressente-se de qualquer forma o limiar da guerra como uma ameaça pervasiva, que deve ser continuamente esconjurado, ensejando um largo esforço nos mecanismos de contenção.
Já na segunda era, da Guerra Fria, a certeza matemática da destruição absoluta conduz a uma limitação estrutural, inscrita nas doutrinas de emprego que os estados passam a reconhecer e elaborar. Paradoxalmente, isto provoca nas pessoas determinado relaxamento na forma de experimentar a guerra. Pois se a guerra agora é tudo ou nada, reduzem-se os casos de sua ocorrência possível a dois e a apenas dois. A guerra em sua complexidade dinâmica, no movimento dos umbrais de conflitividade, passa a ser um problema antes para os países do dito Terceiro Mundo. Neles, fora dos territórios das potências nucleares, a guerra poderia eclodir por procuração (by proxy), em caráter local e assimétrico, ainda que os custos humanos continuem sendo brutais.
Na era da guerra fria, a dimensão da potencialidade predomina sobre a da realidade, que é decalcada como paisagem improvável, quase teórica. Depois da década de 1940, o risco inerente de um cataclisma nuclear decorrente das escaladas entre as potências termina por limitar a representabilidade da guerra direta. A guerra passa a ocorrer na forma de uma cauda longa de miniconflitos, calibrados seja na economia dos meios, seja no escopo das finalidades. A percepção da guerra atenua-se quanto ao grau de envolvimento dos públicos fora dos teatros próprios da Guerra Fria, na periferia dos centros armados. Afinal, a participação se tornara um assunto dos periféricos (nas guerras por procuração) ou simplesmente anulada à qualidade de espetáculo passivo (da dança macabra dos mísseis).
Já na terceira era ou Guerra Morta, a partir de 1991, as dimensões do potencial e do real passam a se anular reciprocamente. A guerra deixa mesmo de ser imaginável como uma possibilidade concreta a ser vivida em primeira pessoa, lançada ao fundo da consciência histórica. Guerra de verdade é coisa de antigamente, dos filmes ou dos videogames, mas todo mundo sabe que não faz mais sentido hoje. Forma-se assim uma atmosfera de descrença na guerra, que penetra na mentalidade pública e com a qual os governos têm de lidar.
Doravante, o que molda a percepção da guerra é sua impossibilidade de fato, de maneira que novas guerras só podem ser experienciadas remotamente. A cortina de representações se torna tão cerrada que atrás dela pode ser qualquer coisa. Nem realidade (guerra quente), nem potencialidade (guerra fria), seu estatuto é de hiper-realismo (guerra morta).
Se estivesse vivo, Baudrillard possivelmente reclamaria a confirmação do diagnóstico diante dos primeiros fogos da guerra da Ucrânia em 2022. Ali, naquela espessa incerteza inicial, nunca estivemos tão perto da conflagração nuclear em escala global, aquela tão alertada durante a Guerra Fria, mas ao mesmo tempo hoje não se dispõe mais dos mecanismos de contenção que haviam sido institucionalizados naquele período. A atualidade é bem mais perigosa, com desfechos menos previsíveis. Ainda assim, exceção à pequena minoria que correu às farmácias para comprar iodo, a grande maioria seguiu vivendo como se nada disso importasse. O cataclisma nuclear provavelmente não teria ocorrido em meio à paranoia lancinante, como no filme “O dia seguinte” (1983). Mas sim na naturalidade sem neuras retratada na comédia-catástrofe “Não olhem para cima” (2021) — de passagem, um filme baudrillardiano.
Quando, em 1991, começaram a pipocar aqui e ali pedaços de imagens da chacina dos militares iraquianos durante a debandada caótica na estrada para Basra, o governo americano decretou a liberação do Kuwait, e ordenou um cessar-fogo unilateral que interrompeu a marcha para Bagdá. Isso se deu antes de qualquer ação formal do Conselho de Segurança ou da aceitação de termos pelo lado vencido. Naquele momento, eclodiam revoltas das minorias xiitas e curdas contra Saddam Hussein, o que embaralhava os esquemas binários manejados tão bem pelos vitoriosos. Até ali tudo havia dado tão certo para a coalizão que, no julgamento de Bush pai e seus aliados, não valia a pena arriscar um jogo ganho.
Com o famoso comando de “alto!” dado pelo comando norte-americano às tropas, que tinham condições operacionais para prosseguir até a tomada da capital, Saddam não hesitou em concordar com os termos da paz imposta. Ato contínuo, ele passou à tarefa de recompor a dominação ameaçada pelas revoltas no sul e no norte do país. O cenário pós-guerra submergiu no lusco-fusco de um conflito multifacetado em que os recortes binários no período da invasão se dissolveram.
É nesse ponto de terminação oficial do conflito, para Baudrillard, que a guerra começava finalmente a acontecer. Até então, para os públicos ocidentais tudo havia transcorrido no registro do não-acontecimento. Quando a guerra ameaçou acontecer, foi necessário encerrá-la e as mídias mudaram o foco.
Em conclusão, na terceira era, da guerra morta, Baudrillard aponta como não é mais caso de posicionar-se a favor ou contra a guerra, mas sim a favor ou contra a realidade da guerra. O estatuto de realidade da guerra deveria ser problematizado em primeiro lugar, como questão preliminar a qualquer outro juízo.
***
Se trouxermos essa reflexão, já com 30 anos, para a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, veremos como há pontos de toque, mas também explicitação de limitações da teoria da Hiper-Realidade.
Na nossa transposição, Putin ocupa a posição de Bush pai e a Rússia dos Estados Unidos, embora Putin não tenha conseguido reunir uma frente ampla consigo, mal tendo êxito em arregimentar a vizinha Belarus no esforço de guerra. Mas a operação da guerra de informação no interior de uma campo tramado de representações, o que Baudrillard chama de hyperréalité, é bastante parecida.
Em um como noutro caso, foi estratégico para o governo manter a guerra abaixo do umbral da própria concepção de guerra. A população na Rússia deve viver a guerra como algo razoavelmente distante, mesmo que esteja acontecendo logo ali, no país vizinho. Em verdade, é melhor para o governo russo até que a guerra não seja chamada de guerra, mas de “operação especial militar”.
Insulado das mídias de fora da Rússia, que são niveladas como difusores da propaganda inimiga, progressivamente desconectado da internet, o cidadão russo tem a sua disposição um dispositivo narrativo estruturante, centrado na Grande Guerra Patriótica. A mitificação do front oriental soviético da Segunda Guerra Mundial é a dorsal das ramificações discursivas do esforço de guerra de informação organizado pelo Kremlin. Disso decorre, durante as coberturas jornalísticas na Rússia, a frequente inundação de símbolos e slogans associados à Segunda Guerra, a nomeação persistente de um inimigo similar aos simpatizantes do III Reich, o declarado propósito patriótico de defender os russos do cerco de potências imperialistas ingratas, e a autoafirmação inexorável do poderio geopolítico da Rússia e da vontade de ferro do seu generalíssimo (“os nossos objetivos serão alcançados!”).
Não é que os cidadãos na Rússia estejam isolados atrás do véu da falsa consciência e mentiras deslavadas, ainda que haja mentiras deslavadas e certo grau considerável de autoengano por parte da sociedade. Mas isso não é crítico, em si mesmas tais representações seriam instáveis e poderiam ser abaladas por “bombas de verdades”, lançadas nas redes por dissidentes e descontentes. Ocorre que as bombas de verdades ocasionalmente são lançadas mas parece não provocar grande efeito.
O que confere amarração ao conjunto consiste na maneira da apresentação dessa guerra, que não cessa em remetê-la a uma representação na qual o cidadão não participa diretamente nem pode vivenciá-la como vizinha. Isto é uma operação delicada, se pensarmos na porosidade das conexões comunicativas nesta altura da globalização, bem como na dificuldade em sustentar o registro do não-acontecimento (a guerra que é não-guerra) quando a cada dia a realidade está mais e mais perto. Daí ser tão sensível para o esforço de guerra russo o controle sobre a informação das baixas do próprio exército, o modo como essas baixas são recepcionadas no país, os desdobramentos triunfais do fronte, os efeitos das sanções sobre a economia básica da população, assim como a insistência orwelliana no objetivo propalado da “desnazificação”.
Isso tudo é bem mais importante, para o Kremlin, do que o patrimônio dos bilionários, a fuga dos cérebros ou a imagem que a Rússia está construindo no exterior para o futuro.
Não é tão simples para Putin realizar a transição da operação especial militar, enquanto não-acontecimento, para o reconhecimento de uma situação de guerra quente, o que envolveria uma mudança abrupta do regime de produção de signos. Englobaria sacrificar a maneira apresentada de vivência da guerra que vem sendo promovida pelo Kremlin e pelas mídias estatais ou putinista, que estão a reiterar todos os dias o poderio acachapante da Rússia, rumo ao triunfo inexorável. Jamais poderia ser acatada a possibilidade de estar no mesmo patamar das forças ucranianas ou de se sentar, de igual para igual, numa mesa com Zelensky.
Assim como na invasão do Iraque de 1991, é vital que, na Ucrânia, se trate de uma intervenção limitada, com objetivos bastante específicos, num palco propício para a exibição da força do homem do Kremlin e o show das novas armas da indústria bélica russa. Tal operação especial não deve envolver o recrutamento em massa da população, sobretudo não das grandes metrópoles, mais arredias, como Moscou ou São Petersburgo, subrepresentadas na composição do exército invasor. Nem interessa a exposição da população a baixas significativas ou a derrotas táticas ou estratégicas, como ocorreu no Vietnã ou no Afeganistão, nas décadas de 1970-80. Ter de equacionar essas variáveis críticas no front interno deve tirar Putin do sono.
Se a descrição do regime de signos na era da guerra morta é fecunda para se refletir sobre a midiatização russa da invasão, essa mesma descrição esbarra em limites quando a projetamos sobre o lado ucraniano. É que, nesta guerra em curso, não há simetria entre a máquina de propaganda de um lado e de outro, como não há simetria de heroísmos entre Putin, herói do Estado, vestido do manto púrpura dos imperadores, e Zelensky, que não é um pequeno Putin.
Do lado russo, a guerra vem coberta de bandeiras, símbolos, cultos pretéritos e inúmeras correspondências narrativas com enredos de czares e impérios. Putin se comporta como um historiador-em-chefe, a todo momento entretecendo a historicidade entre a invasão atual e eventos do passado glorioso a resgatar.
Do lado ucraniano, diferentemente, são veiculadas imagens dos corpos resistentes ou vitimados, das cidades destruídas, das privações da população civil, da situação difícil das crianças e dos refugiados, do feixe de afetos que reuniu o povo em armas com a liderança e o exército. Os agressores russos pintam a letra Z como símbolo para a autoafirmação da violência irresistível, enquanto os resistentes ucranianos homenageiam os pequenos agricultores que, com seus tratorzinhos, rebocaram os T-72 invasores.
Putin é uma liderança à moda antiga, pré-internet, atrelada à lógica das mídias televisivas e de coberturas jornalísticas como as que fizeram sucesso na Guerra do Golfo. As emissoras estatais na Rússia lembram aquela mesma CNN de 1991, com jornalistas agregados às tropas e correrias ofegantes de olhar dirigido ao esforço “libertador”. Já a performance de Zelensky opera noutro regime, no regime de produção de signos do século XXI, ressoando com as redes sociais, as plataformas de streaming e os posicionamentos enquanto cidadão comum, que caminha do lado de seu povo e não de um bunker. Sua figura incomoda porque é um outsider emergido do caldo das indignações antissistêmicas, opondo-se aos dois populismos que procuram ocupar o vazio da representação política. Um dos poucos outsiders que deu certo como alternativa palpável.
De um lado, Putin, tecnopopulista megalomaníaco que se imagina combatendo uma guerra híbrida contra todo o Ocidente, a resgatar e recauchutar o imaginário da Guerra Fria, digerível para os apparatchiks putinistas pelo mundo e suas nostalgias do mundo binário.
Do outro Zelensky, o herói iconopolítico que funciona com as imagens indexadas pela experiência vívida da guerra, conseguindo falar com as multidões e para elas, angariar pressões relevantes sobre governos aliados e reforçar o esforço de guerra para além das fronteiras ucranianas.
Como não reconhecer a diferença qualitativa quando vemos Zelensky admitir o alto grau de perdas humanas nas batalhas, o que, do outro lado do front, é tratado como segredo de estado, sujeito à estrita disciplina da informação. Ou quando Zelensky acata a rendição da guarnição em Mariupol, a fim de salvar vidas, quando o sacrifício conviria melhor para embelezar uma narrativa épica de heróis e mártires, bem ao gosto das mitificações do estado russo. Ou quando Zelensky expõe a própria fraqueza, ao clamar pelo socorro vindo do Ocidente na forma de recursos, ajuda humanitária e armas de defesa.
Tudo isso contrasta com a figura de homem irascível, de temperamento violento, que é ostensivamente propagada pelos meios russos e pelo próprio Putin, que parece delirar-se como um personagem de “Os Irmãos Karamázov”.
***
Vem à memória um ensaio de outros dois filósofos franceses, “Maio de 1968 não aconteceu” (Mai 68 n’a pas eu lieu), de Gilles Deleuze e Felix Guattari, publicado na revista Chimères (Quimeras) em 1984, sete anos antes da trilogia baudrillardiana. Todos os textos, de Baudrillard como o ensaio citado, extraem seu título de uma peça mais antiga de Jean Giraudoux, chamada La guerre de Troie n’aura pas lieu. Mas as pegadas deles são bem distintas.
Para Deleuze e Guattari, a expansão das mídias pode até ter nos lançado na hiper-realidade, isto é, no tempo do não-acontecimento. Não faltam nas obras desses dois autores críticas sobre a sociedade de controle, como modulação permanente do ambiente informacional. Mas isto seria apenas metade do problema. Eles complementam no ensaio: em fenômenos históricos como o de Maio de 1968, há uma parte irredutível à trama de representações, uma parte sem lugar que escapa. Justamente isso que foge reabre o campo dos possíveis, atuando como pulmão da história, trazendo-lhe oxigênio.
A diferença principal está no fato de que, na Rússia, o regime de Putin não só suprimiu o levante dos russos indignados em 2011-13, como fez da supressão desse tipo de levante a própria razão do estado, sua doutrina, seus objetivos estratégicos e sua política doméstica. Na Ucrânia, ao contrário, a supressão tentada não vingou e o ciclo dos protestos pôs em movimento novas centelhas na história do país. Depois de vários vaivéns e reviravoltas, algo escapou no longo ciclo da Maidan, que anima a resistência ucraniana e o desempenho de Zelensky.
O quanto um lado se apoia sobre a supressão das lutas e o outro na sua continuidade noutros termos define a abertura do futuro. É nisso que se acoplam as multidões, o que torna a guerra mais do que um mero choque entre forças e narrativas, e a única via possível para a vitória.