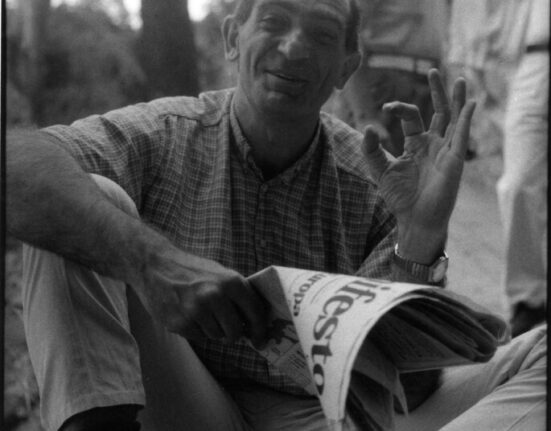A moeda entre cinismo e fascismo (Alt Right)
Giuseppe Cocco
Nesse artigo pretendemos continuar os esforços de reflexão sobre o enigma em que se tornou a política no Brasil depois de junho de 2013, assim como fizeram Bruno Cava (em O 18 de Brumário Brasileiro)[1] e Alexandre Mendes (em Vertigens de Junho. Os levantes de junho de 2013 e a Insistência de uma Outra Percepção[2]).
Nada melhor que começar lembrando o enigma do político definido por Maurice Merleau-Ponty em seu celebre trabalho Note sur Machiavel de 1949[3]. Por um lado, o filósofo afirma que a obra de Maquiavel é a base fundamental para se pensar um verdadeiro humanismo e uma política radicalmente outra daquela que funciona como “exortação moral”. Algo que somente poderia acontecer por meio da “invenção de formas de poder político capazes de controlar o poder sem anulá-lo”, um “poder dos sem-poder”. Pelo outro, uma vez “esboçadas essas formas políticas”, como parecia ter sido o caso na revolução russa de 1917, “o poder revolucionário perdeu o contato com uma fracção do proletariado (…) e, para esconder o conflito, começa a mentir”. Diante da comuna de Cronstadt[4] o novo poder bolchevique “proclama que o estado-maior dos insurrectos está nas mãos (da contrarrevolução). Da mesma maneira – depois da revolução francesas – as tropas de Bonaparte tratam Toussaint-Louverture, que lidera a luta dos escravos no Haiti, em agente do estrangeiro[5]. A divergência já é maquiada em sabotagem, a oposição em espionagem”[6]. Assim, constata Merleau-Ponty, “vemos reaparecer dentro da revolução as lutas que ela devia ultrapassar” e “o enigma de um humanismo real resta inteiro”[7], sem solução.
Começamos então dizendo que o desafio do político é mesmo pensar a política como reconhecimento desse enigma, que só tem soluções provisórias, evitando a tentação de, em algum momento, fixá-la definitivamente[8]. Ao mesmo tempo, se o enigma do humanismo é insuperável, isso não significa que ele se apresente sempre da mesma maneira. No imediato pós-guerra, Claude Lefort atrelava a própria renovação do marxismo à crítica da ideia marxista de solução[9]. Contudo, a saída do “absoluto” dos princípios morais abstratos – afirmados a priori com base na tradição ou a posteriori com base na revolução – não é o relativismo (o maquiavelismo). A incrível parábola da esquerda brasileira, em sua defesa do “lulismo” e do Partido dos Trabalhadores (PT) depois de sua morte política (depois de junho de 2013), não poderia ser mais emblemática: o relativismo (o cinismo maquiavélico e sem princípios do PT, com suas políticas neodesenvolvimentistas e a industrialização da corrupção) acaba sendo defendido em nome da ideia absoluta da esquerda como valor moral, como pura transcendência (e isso também por parte de teóricos políticos que diziam fazer da imanência seu norte: entre romper com a esquerda enquanto essência e ficar com seu público editorial, não hesitaram nem por um segundo). Chegamos assim ao paroxismo de uma defesa moral de princípios absolutos (a esquerda, a bandeira, o anti-imperialismo) que serve à defesa da mais absoluta falta de princípios (corrupção, tríplex, os subsídios ao grande capital). Um relé a partir do qual relativismo e absoluto se retroalimentam de maneira perversa.
A saída maquiaveliana (e marxiana) à armadilha constituída pela falsa alternativa entre o absoluto e relativismo se encontrava no perspectivismo: no tornar-se príncipe do povo minuto, na afirmação do ponto de vista de classe, do poder operário. Por muito tempo nós apoiamos essa saída que pensávamos ser a única capaz de juntar os princípios e os processos de sua produção em uma nova ética. A radicalização desse método na análise operaista italiana[10] do americanismo como sendo uma produção das lutas operárias continua sendo uma das propostas mais potentes nessa direção, mas ela também faz parte do enigma e isso na medida que esse pensamento e essa práxis caíram no mesmo impasse, representado no debate em favor ou contra a autonomia do politico[11]. Hoje sabemos que essa saída também não leva para lugar nenhum e que precisamos aprofundar o êxodo.
Portanto, a reflexão sobre o enigma tem várias dimensões. Duas dessas nos parecem urgentes e tentaremos esboçá-las aqui: trata-se da questão do fascismo (que hoje se chama Alt Right) e daquela da moeda. As duas se juntam na medida em que implicam reciprocamente as possibilidades e impossibilidades de uma conversão (ou inconversibilidade) da violência em civilidade[12].
A greve que não houve
Em 1984, no meio da virada neoliberal do governo da “gauche” (do presidente François Mitterand), Deleuze e Guattari escreveram um breve artigo intitulado Maio 68 não aconteceu. Ele não poderia ser mais atual, ao ponto que podemos facilmente colocar “Junho de 2013” no lugar de “Maio 68” e as suas inflexões funcionariam da mesma forma, quase por inteiro. Isso mostra a força do evento e ao mesmo tempo o quanto a esquerda – inclusive a que se chama e se refere ao Deleuze ou ao Negri – é um real e eficaz operador de destruição de subjetividade. Vale a pena citar esse longo trecho:
Na França, escreveram, depois de 68, os poderes conviveram o tempo todo com a ideia de que a “poeira baixaria”. E, com efeito, a poeira baixou, mas em condições catastróficas. Maio 68 não foi a consequência de uma crise, nem a reação a uma crise. Foi o contrário. É a crise atual, são os impasses da crise atual (…) que decorrem diretamente da incapacidade da sociedade francesa para assimilar maio de 68. A sociedade francesa mostrou uma radical impotência para operar, no nível coletivo, uma reconversão subjetiva do tipo que 68 exigia; sendo assim, como poderia operar atualmente uma reconversão econômica em condições de “esquerda”? Ela não soube propor nada às pessoas: nem no domínio da escola, nem do trabalho. Tudo que era novo foi marginalizado ou caricaturizado.[13]
Depois de junho de 2013, aconteceu a mesma coisa. Talvez retirando o fato de que a esquerda brasileira tinha, sim, alguma coisa a propor: Copa do Mundo, Olímpiadas, rios de dinheiro para as grandes empresas e remoções de pobres. Assim, uma vez que a subjetividade foi destruída, a “reconversão” econômica se torna a única “coisa” restante: com Dilma, com Temer e, agora, com Bolsonaro.
Já em 1945, resenhando um livro de Daniel Guérin sobre o fascismo, Claude Lefort escrevia: “Não é porque o fascismo é inautêntico que ele não é”[14]. Continuar dizendo que Bolsonaro é Bolsonaro não é apenas tudo que ele quer e precisa para retroalimentar sua máquina discursiva (o twitter), mas impede, por um lado, de apreender as responsabilidades políticas dessa perigosíssima virada eleitoral e, pelo outro, de analisar sua composição e suas contradições. Para resistir ao horror, precisamos apreender, antes de tudo, como foi que ele pôde virar “solução” para uma grande porção do eleitorado. Isso quer dizer se preguntar como foi que as alternativas políticas e sociais foram sistematicamente silenciadas pela esquerda hegemônica.
A coalizão que ganhou as eleições é altamente diversificada e repleta de contradições bastante importantes. Não queremos fazer aqui uma análise detalhada de cada uma de suas componentes, mas focar sobre alguma de suas dimensões. O fenômeno eleitoral está atravessado por pelo menos duas linhas distintas: uma primeira tem a ver com o movimento Alt-Right (a nova extrema direita norte americana)[15], que tem renovado a extrema direita no nível internacional; a outra diz respeito à interpretação e representação do anti-petismo. Nós nos concentraremos na primeira linha, aquela que deu as bases para um discurso político inescrupuloso, repleto de Fake News. Duas dessas são as mais expressivas: aquela do suposto Kit Gay e aquela de o “Nazismo ser uma ideologia de esquerda”. Na ousadia da falsificação, elas funcionam como se fossem duas “verdades”. A primeira Fake News visa transformar o incómodo criado pela mudança cultural e social em termos de liberdade sexual e novos regimes discursivos em um verdadeiro protesto social, algo como a “revolta dos normais” que seriam (pasmem) oprimidos pelos “anormais”.
O que o movimento gay, as feministas, o movimento LBGT conseguiram como brecha nos códigos normativos e impositivos que vigoravam (e vigaram ainda), é visto como imposição de uma nova norma, que seria “gay”: a educação sexual seria na realidade uma orientação sexual. Por assombrosa que seja a operação, ela precisa ser encarada nesses termos e são esses termos que precisam serem desconstruídos e transformados: fazer da prática de novos direitos – nesse caso no campo da liberdade sexual – algo que se afirma por meio de leis e de leis de “criminalização” abre o caminho para esse tipo de equívocos que a nova direita interpreta e organiza com o mesmo nível de cinismo que o PT usou para reduzir os direitos a mero marketing e relativizar a corrupção. A situação é particularmente desagradável: ao passo que se curvavam obsequiosamente aos interesses das alianças com os evangélicos, os governos do PT não fizeram nenhum avanço real (como poderia ter sido para as milhares de mulheres que perdem a vida nos abortos clandestinos, não promovendo nem a legalização do aborto ou mesmo a sua inserção formal numa pauta legislativa). Para compensar, eles investiram apenas no marketing e na cooptação de aparelhos de “movimento”. Assim, o revide da extrema direita que hoje está no Planalto não golpeia reais conquistas, mas apenas conquistas imaginárias, no terreno mesmo do marketing[16]. O resultado é que ao invés de ter alguma coisa para defender, os movimentos estão duas vezes acuados: precisam defender um marketing fundamentalmente vazio sem uma real dinâmica de mobilização, pois o PT trabalhou com afinco para desmobilizá-los.
A segunda Fake News, como dissemos, afirma que “o nazismo era de esquerda”. Se trata obviamente de uma narrativa funcional ao anti-petismo, mas ela tem uma dimensão mais profunda, pois ela explicita – por trás da sua aparência grosseira – a inspiração fascista do bolsonarismo. Dizer que o nazismo era de esquerda significa renovar sua forma narrativa mais sofisticada. O Nazismo, como sabemos, é a junção do nacionalismo com o socialismo (Nazionalsocializmus), algo que deveria ter sido impossível. Basta pensarmos que o socialismo era ontologicamente internacionalista. Entretanto, isso serviu, na década de 1930, para capturar e manipular o mal-estar de segmentos de classe pauperizados pela crise e enfurecidos com a humilhação nacional imposta à Alemanha pelas potências vitoriosas da Primeira Guerra Mundial. O devemos perceber é que o nazismo é mesmo essa manipulação: massacrar a esquerda e ao mesmo tempo capturar as massas que ela deveria organizar, emplacando as reivindicações sociais no terreno nacionalista. E, para isso, desenha como inimigo o “internacionalismo”, que seria o fato de uma plutocracia (o governo dos ricos) cosmopolita (global). O antissemitismo, ou seja, a ideia de dizer que o mundo é governado por um complô de judeus, ricos e comunistas, não foi (e não é) um “desvio” de caráter de Hitler, mas – como foi a guerra – uma parte funcional do nazismo como Fake News.
Como não ver, nos regimes discursivos da Alt Right, esses mesmos temas, reciclados hoje na retórica anti-globalista e na transformação dos liberais – particularmente da mídia – em “perigosos comunistas”? A perseguição antissemita de George Soros, financista americano de origem húngara, pela Alt Right daquele país, é a melhor e inquietante representação dessa renovação[17]. Da mesma maneira, a presença do premier húngaro Viktor Orban entre os pouquíssimos lideres que prestigiaram a posse de Bolsonaro também é particularmente expressiva[18]. Mas, da mesma forma, como não ver também no anti-globalismo, no discurso contra a mídia e nas teorias dos complôs uma boa parte do modo de ser da esquerda realmente existente, contra o mesmo Soros e o site que recebeu seu suporte, o Open Democracy? Como não pensar no regime discursivo sobre o impeachment de Dilma Rousseff, que foi transformado num complô (“Golpe”) midiático-judiciário e parlamentar?
Historicamente, o fascismo e o nazismo são tentativas de construção de uma “terceira via” de tipo plebeu e popular a partir da junção de alguma inovação econômica e de uma nova e potente narrativa: no caso do fascismo, Mussolini a tinha emprestada da mitologia romana, já os nazistas na mística da raça superior. Claude Lefort lembrava:
O fascismo, mesmo que a gente não o aprisione em sua forma alemã (racismo e misticismo), supõe uma mobilização das classe médias em torno de um ideal de grandeza nacional, uma política estrangeira imperialista, uma demagogia socialista capaz de encontrar uma ressonância entre as massas.[19]
Merleau-Ponty, num livro dedicado às questões do Sentido e do não-Sentido[20], reconhece que, no fascismo, “havia uma reação saudável contra as ilusões kantianas da democracia”[21]. Com efeito, “o otimismo democrático supõe que a violência só faz um aparecimento episódico na história humana, que as relações econômicas tendem por si só a realizar a justiça e a harmonia e, enfim, que a estrutura do mundo natural e humano é racional”. Diante desse otimismo liberal e do formalismo jurídico que o complementa, continua Merleau-Ponty, “nós hoje sabemos que a igualdade formal dos direitos e a liberdade política mascaram as relações de força ao invés de eliminá-las”. A questão é, pois, como ultrapassar a fraqueza do pensamento liberal para fazer com que a democracia não se limite a uma invocação moral, para fazer com que a igualdade e a liberdade sejam reais, efetivos. “Contra esse moralismo (do liberalismo), nós (devemos estar) todos coligados ao realismo, se por isso entendemos uma política que cuide de realizar as condições de existência dos valores que ela escolheu”. Mas, essa crítica da “moral” do formalismo democrático não tem nada a ver com o “imoralismo” fascista (de Charles Maurras nesse caso). O que o fascismo faz é, sim, reconhecer que “a igualdade e a liberdade não são dadas”, mas, ao invés de dizer que precisam serem construídas, “ele renuncia à igualdade e à liberdade”[22]. A inovação do dispositivo fascista, (no período entre as duas guerras mundiais) que está hoje sendo atualizada (pela Alt Right), é a de reconhecer a hipocrisia de uma democracia formal, que se limita a afirmações morais e abstratas de uma maneira muito próxima da crítica materialista que vem do campo humanista ou da esquerda, para depois lhe opor não a luta material para uma democracia efetiva, mas a renuncia à própria democracia. Se trata de uma operação parecida com a que o bolchevismo acabou por fazer na URSS, denunciada com veemência por Rosa Luxemburgo, pelos anarco-comunistas, como Alexander Berkmann e Emma Goldman, bem como pelo ex-bolchevique francês, Boris Souvarine.
No momento da crítica, o discurso fascista é muito próximo da crítica popular e de esquerda, mas só para resolvê-la através de um decisionismo e, ainda por cima, imoral: pois que os direitos (humanos) são apenas formais e hipócritas, vamos mesmo destruí-los formal e materialmente; pois que o monopólio estatal das armas não é respeitado sequer pelos aparelhos de estado (as polícias que viram milícias), vamos mesmo liberar o armamento para os mais ricos e poderosos e generalizar as milícias, etc. Pois que os aparelhos que se definem como representantes das minorias procuram “atalhos” identitários, vamos mesmo fazer uma política identitária, só que da maioria.
É interessante perceber que esse dispositivo é organizado e funciona em determinadas condições históricas. No caso do fascismo italiano, um dos determinantes foi o nacionalismo frustrado de uma Itália recém unificada e o medo diante da pujança das tentativas revolucionárias que seguiram a revolução russa e ao abalo sísmico da Primeira Guerra Mundial na composição social do país. Já na radicalização nazista, encontramos novamente a frustração nacional, porém, dessa vez, o imoralismo se dispõe numa relação paradoxal com o regime bolchevique: o desvio e a repressão do movimento operário e socialista são organizados com base nas técnicas de propaganda e concentração inspiradas nas próprias políticas bolcheviques (e depois no estalinismo). Há uma linha de continuidade terrível entre a Administração Central dos Campos de Trabalho soviéticos (os Gulag) e os Campos de Concentração alemães, bem representada na escrita que ainda “acolhe” os visitantes na entrada do campo de trabalho e de extermínio de Auschwitz: “o trabalho liberta” (Arbeit Macht Frei).
No Brasil, esse dispositivo tem algumas inovações discursivas (o anti-globalismo da alt right mundial), mas deve seu sucesso à hegemonia petista e lulista dentro da esquerda. Ela que foi capaz, ao mesmo tempo, de destruir, primeiro, todo tipo de mobilização autônoma e, em seguida, eliminar todo tipo de alternativa eleitoral e, finalmente, de afirmar que o problema do país seria a operação judiciária de luta contra a corrupção (a Lava Jato). O resultado é um gigantesco vazio dentro de uma vasta indignação que, a partir de final de 2014, passou a ser ocupada pelo bolsonarismo. Duas são as marcas desse funcionamento do dispositivo bolsonarista: a primeira é a entrada do juiz Sérgio Moro no seu governo, como reconhecimento de que somente no seu movimento a luta contra a corrupção encontrou um respaldo político e institucional; a segunda marca foi anterior às eleições, aparecendo potentíssima com a greve dos caminhoneiros. Não temos aqui espaço para discutir se a entrada de Sérgio Moro no governo Bolsonaro reforça ou acaba completamente com a Lava Jato. Nos parece que se trata de um grande risco para a operação, mas isso não elimina o fato de que toda a esquerda aderiu de maneira inexplicável ao cinismo corrupto do PT.
Quanto aos caminhoneiros, a sua organização se deu pela contestação (em maio de 2018) da política “global” dos preços do óleo diesel praticada pela Petrobras, sendo que muitos deles pediam efetivamente uma “intervenção militar”. Entender como a proposta bolsonarista tenha se tornado a referência dessa gigantesca mobilização autônoma do principal setor da logística no Brasil já permite explicar uma boa parte do fenômeno. Em primeiro lugar, os caminhoneiros sabiam e sabem muito bem que os governos do PT foram a causa da dificílima situação na qual se encontravam a Petrobras, a economia nacional e eles mesmos: endividamento excessivo, baixa do valor do frete e corrupção na Petrobras, que teve e tem como consequência o repasse da conta para os consumidores, em particular para eles. Ao que os caminhoneiros afirmaram: “nós não roubamos, essa conta não é nossa!”. Em segundo lugar, essas reivindicações econômicas dos caminhoneiros se completaram através da reivindicação política de uma “intervenção militar”. A percepção da corrupção pelo que ela é, ou seja, um modo de funcionamento sistêmico que leva um dos delegados da Polícia Federal na força tarefa da Lava Jato a se perguntar “se há um país no meio dessa corrupção geral”, levou os caminhoneiros a serem receptivos à propagada em prol de uma das instituições (o exército) que lhes parecia não estar envolvida com essa sistemática. E, assim, dirigiram a essa instituição as suas demandas de proteção.
Oras, ao mesmo tempo que essas inversões constituem e fazem funcionar o dispositivo discursivo da nova direita, elas constituem seu lado mais fraco e, por causa disso, mais agressivo. A guerra não era apenas uma opção para o nazi-fascismo, mas uma necessidade reprodutiva, tanto para promover a mistificação do dispositivo, como para a sua própria sobrevivência econômica, com previsão das conquistas materiais pela subordinação dos outros povos. E não é diferente com a nova direita, embora essas guerras sejam “apenas” comercial e/ou cultural. Entretanto, sabemos que a guerra comercial tem forte chances de levar à guerra tout court, ao passo que aquela “cultural” já alimenta um novo conflito entre os tipos de fundamentalismo religioso. A necessidade fascista de fazer a guerra não é apenas causa de suas desgraças bélicas, mas também de suas dificuldades de lidar com o pé “econômico” de sua política: a promoção do consumo popular pelos nazistas – com a emblemática criação da Volkswagen – não podia ser um fordismo, pois somente funcionava a partir da pressão operária, ao passo que o nazismo mobilizava o trabalho de maneira compulsória. O ajuste neoliberal, no caso do governo Bolsonaro, não tem como evitar de esbarrar na pouca importância dada pelo núcleo duro do bolsonarismo à política econômica e no corporativismo de sua tradicional base social. Essa fuga para frente é inevitável, pois, sem ela, o dispositivo de inversão e desvio passa a funcionar pelo avesso (quer dizer, de maneira autônoma) e se transforma em uma crescente oposição social.
Se as polêmicas em torno do carnaval, assim como em torno dos ministérios ideológicos do governo (o Itamaraty e a educação, em particular) fazem parte da reprodução do jogo, o episódio da intervenção na Petrobras, para segurar o preço do óleo diesel e evitar a greve dos caminhoneiros, é outra coisa. No momento em que escrevemos (maio de 2019), não podemos avaliar todos os seus desdobramentos e consequências (se a mobilização dos caminhoneiros foi definitivamente afastada, se a intervenção na Petrobras criou fissuras na coalizão), mas seus significados já são extremamente claros: o bolsonarismo procura reproduzir ad infinitum o enfrentamento sobre as questões de costume, meio ambiente, para guardar a “esquerda” na posição de denunciante do óbvio (que Bolsonaro é Bolsonaro) e manter as suas bases mobilizadas e aguerridas. Mas uma mobilização autônoma dessa envergadura, de uma figura do trabalho ao mesmo tempo estratégica, massificada e capaz de atravessar as linhas de polarização (promovidas pelo Petismo e ocupadas pelo Bolsonarismo) é insuportável, porque seu impacto seria realmente desestabilizador.
A “greve que não houve”, aquela dos caminhoneiros, tem, assim, impactos importantes e de longo alcance. Independentemente dos esforços que as equipes políticas (a Casa Civil) e econômicas (do Ministério da Fazenda) farão para costurar uma narrativa que torne coerentes intervencionismo e neoliberalismo, a questão não é mais interna ao governo e já se conecta com uma sensação mais geral de que a confiança tão procurada pelo ajuste sem fim, praticamente desde os primeiros meses do segundo governo Dilma, não está nem se consolidando nem mostrando que um dia vai se firmar. Há um verdadeiro descompasso entre economia e sociedade, um descompasso que voltou de vez.
O enigma da conversão da violência: novo horizonte da política monetária
No descompasso entre economia e sociedade podemos enxergar uma outra face (talvez sua verdadeira face) do enigma da política, assim como o formulamos no início dessas reflexões. Aqui o enigma aparece como o tema da conversão da violência, que a filosofia política coloca no terreno da construção da paz e do estado de direito como deslocamento da lei da força para a força da lei[23]. Na realidade, a questão da conversão é mesmo uma questão monetária ou de ontologia da moeda como laço fiduciário[24]. Para a esquerda, a moeda, assim como o fetichismo da mercadoria, é um tabu. Para os liberais é um dogma. Sendo menos moralista, a dogmática monetária é mais eficaz que a condenação – de origem religiosa – da moeda enquanto fetiche. Isso, aliás, torna bastante paradoxais as análises do capitalismo enquanto religião[25]. A globalização, com a ampliação dos fluxos de todo tipo, inclusive monetários, fez com que a crítica do fetichismo e do capitalismo se tornassem, por um lado, uma recuperação ampliada do velho discurso marxista sobre a separação das duas esferas econômicas (real e monetária) pela inversão do ciclo M-D-M1 (mercadoria-dinheiro e mais mercadoria) em D-M-D1 (dinheiro-mercadoria mais dinheiro) e, pelo outro, das análises em termos de endividamento generalizado como fenômeno moral (de culpa). Isso levou ou à procura por uma impossível volta a um capitalismo “mais real do que esse que está aí” ou à utopia de uma sociedade desmonetarizada[26]. Mas as grandes lutas que transformaram o movimento operário, desde o New Deal norte americano da década de 1930 até o novo sindicalismo do ABC paulista do final da década de 1970, passando pelas lutas do final da década de 1960 na Europa ocidental e naquela socialista, tinham como terreno a moeda: os aumentos salariais. Mais recentemente, no Brasil, a luta do MPL foi pelos 20 centavos e aquela dos caminhoneiros pelos 40 centavos. São lutas que não acontecem contra a moeda, mas no terreno da moeda. Quando se fala de “finanças” e de “financeirização”, isso deveria ser visto a partir do fato de que hoje a moeda se tornou explicitamente o terreno imediato – sem mais a mediação salarial – da mobilização da sociedade, inclusive das lutas e dos movimentos sociais. É exatamente nesse terreno que o atual governo encontra suas maiores dificuldades e, diante dessas, algumas brechas se abrem para um debate realmente inovador.
No Brasil desse primeiro meado de 2019, os colunistas de economia e política começam a duvidar sobre o futuro do governo e apontam como problema a existência de algo como um “equilíbrio precário entre populistas e liberais”. O pessimismo desponta com cada vez mais força, mesmo que a ênfase continue sendo aquela das dosagens internas a uma aliança que poderia encontrar seu rumo. Mas não há como esconder: “a hostilidade do grupo ideológico ao livre comércio (do governo Bolsonaro) é notória, o que deve dar calafrios na equipe econômica e no ministério da agricultura”[27]. Diz-se que se manifestou nas estradas alguma coisa como um “divórcio de bolsonaristas”[28] e se multiplicam as exortações: “Já acumulamos muitos (fracassos) nos últimos anos para continuar perdendo tempo em brigas inúteis”[29]. O otimismo está declinando. O país está entrando no oitavo ano de estagnação e já se prevê “mais uma década perdida no Brasil”[30]. A confiança está virando abertamente desconfiança e, diz-se, ela tem um custo[31]. A preocupação não se limita ao Brasil: “seja de direita ou de esquerda, há um momento em que o governo latino-americano acha que é possível resolver tudo com uma canetada, um congelamento (dos preços na Argentina pelo presidente Macri), ou um telefonema para o presidente da estatal (a Petrobras)”[32]. Reabre-se, assim, o espaço para os diagnósticos que questionam as políticas de austeridade:
Ao longo do período (2014-2018), a persistente agenda de austeridade não trouxe a performance prometida. Avaliações subjetivas sobre “confiança” do setor privado mostraram recuperação em resposta a determinados eventos políticos e/ou alterações institucionais e legislativas, sem que o investimento privado apresentasse a performance esperada.[33]
É nesse contexto, de uma sensação geral que a confiança não vem e não virá, que se abriu uma brecha e o economista André Lara Resende aproveitou. Ele mudou de regime discursivo, ousando voltar a dizer a verdade sobre a moeda. Seus dois artigos publicados na imprensa são relativamente simples e afirmam o que deveria ser óbvio: a economia não é nem uma ciência exata nem uma técnica de contabilidade. A economia é política e a moeda é o resultado e a base dessa “política”. O lastro da moeda não é material, mas fiduciário: não há nenhuma limitação objetiva, material, na criação (emissão) de moeda e, pois, “o governo – que emite moeda – não tem restrição financeira”. A procura de um “orçamento sempre equilibrado” é, na realidade, apenas uma “superstição”[34]. Lara Resende opera uma virada radical e importantíssima das abordagens econômicas main stream, porém ele a mantém em nível histórico e técnico, como se esse debate dependesse do tipo de concepção teórica que se tem da moeda. Por um lado, ele fornece uma síntese que associa clareza e coerência, mobilizando a história e até a antropologia do David Graeber[35]. Pelo outro, estamos longe de resolver o enigma que o economista Paul Samuelson nesses termos definiu: “a crença de que seria sempre preciso equilibrar o orçamento fiscal é uma superstição, um mito, cuja função é mais ou menos a mesma das religiões primitivas: assustar as pessoas para que elas se comportem de maneira compatível coma vida civilizada”[36].
Então, Lara Resende pensa que se trata de enfim dar um passo para frente em termos de racionalidade e – reconhecendo que a moeda é nossa criação fiduciária, ex nihilo – ultrapassar os mitos, rumo a um suplemento de “civilidade”. Mas, na realidade, o dogma do equilíbrio fiscal é apenas o reflexo espelhado da outra superstição para a qual as questões da falta de saúde, de segurança e de educação se resolveriam apenas “financiando-as”. Desconstruir a justificativa monetarista do dogma do equilíbrio fiscal resolve apenas em parte o problema, pois no fundo ele continua sendo o mesmo, fiduciário, quer dizer, de confiança. O enfrentamento não é entre duas concepções e, pois, duas “essências” da moeda, mas entre os que pensam (e precisam) que a moeda tenha uma (essência) e os que reconhecem que ela não tem nenhuma e sua realidade é totalmente relacional. Pois que “não ter restrição financeira não significa que tudo está permitido, que a escassez de recursos inexista e que o custo de oportunidade possa ser desconsiderado”[37], como se constitui realmente a confiança? A própria confiança, ela sempre tem as mesmas caraterísticas ou pode variar?
Em termos de política econômica, o desfio é de reconhecer o que está por trás dos regimes discursivos e das superstições. Por trás do dogma do equilíbrio fiscal, há a convicção de que ele é uma prova de racionalidade que permite a formação de uma confiança que leve à retomada dos investimentos do setor privado. Essa “racionalidade” depende, assim, do resultado ex post, de uma confiança que não tem como ser totalmente racional. Nessa visão, a violência da crise não é convertível a não ser como violência do ajuste e só depois desse é que haverá, como consequência segunda, alguma conversão social da economia.
A outra abordagem diz que é “a insuficiência de moeda que causa problema, não seu excesso. Desde que o poder de compra da moeda seja preservado, não seja corroído pela inflação, a demanda pela moeda é praticamente infinita”[38]. A prova empírica que Lara Resende mobiliza é aquela das políticas de Quantitative Easing (QE) praticadas pelo Banco Central Europeu e o FED ao longo dos últimos anos para conter os efeitos da crise financeira de 2007 e 2008:
O QE é a comprovação prática de que o governo não tem restrição financeira, pois pode aumentar suas despesas, neste caso para adquirir ativos financeiros do setor privado, simplesmente creditando reservas bancárias em nome dos vendedores. Como ao gastar o governo “emite” reservas bancárias, não é preciso que obtenha os recursos para gastar, nem através de impostos, nem de qualquer fonte alternativa de financiamento.[39]
Abre-se aqui uma fresta por onde é possível pensar a conversão da violência em moeda. Na primeira abordagem, a moeda é continuação de uma violência que só o crescimento consegue transformar. Na segunda, ela é conversão da violência na moeda necessária ao desenvolvimento. Mas, a efetividade da conversão no plano da clivagem entre civilização e barbárie fica totalmente em aberto.
O fato é que, por mais importante que essas políticas monetárias de emissão massiva de moeda tenham sido (inclusive para o aprofundamento do processo de constituição europeu), elas foram e são incapazes de “bancar” (lato e stricto sensu) um novo pacto social e político. A crise da globalização continua se aprofundando, em particular com a multiplicação eleitoral da nova direita (Brexit no Reino Unido, Trump nos Estados Unidos, Salvini na Itália, etc.). Deslocar o debate da confiança ex post (que precisa afirmar que o estoque de moeda é finito) para aquela ex ante (a moeda é fiduciária e seu estoque ilimitado) é um grande passo para frente, mas apenas porque reformula a questão da confiança sem, contudo, resolvê-la. O que precisamos, nessa perspectiva, é pensar realmente o Novo Pacto que pode produzir as equivalências necessárias à conversão da violência em política, da guerra em paz. A conversão precisa de uma moeda capaz de pagar o preço dessa conversão, no sentido etimológico da palavra: o pagamento é essencial para a pacificação, exatamente na medida que “pagar” vem do latim pacare: pacificar[40].
Ao invés de a reforma da Previdência ser a condição da confiança e da sustentabilidade, o que precisamos é de uma outra confiança para a reforma da Previdência. Em outros termos, diremos que a reforma da previdência só é sustentável se ela se desloca nessa direção de poder pagar (pacificar) uma proteção social mais adequada. Isso significa introduzir novos elementos de equivalência, particularmente por meio da inflexão nos modos de apreensão do trabalho: trata-se de reconhecer que hoje o trabalho não é mais realizado dentro da relação de emprego, mas fora dela, na forma da “empregabilidade” ou do trabalho autônomo e com o conteúdo da precariedade. Por trás do debate sobre “confiança” e Previdência emerge uma outra clivagem social, aquela entre uma sociedade salarial definitivamente em crise e que não consegue reformar suas instituições sem aumentar ainda mais a precariedade e a da violência de um trabalho sem-salário que ainda não tem suas instituições: nem seu reconhecimento, nem sua proteção. A confiança não está nem no financiamento do sistema atual (organizado em torno de uma sociedade salarial que nunca existiu e nunca existirá) nem na reforma que vise ao equilíbrio contábil.
Retomemos mais uma vez a metáfora de Yann Moulier Boutang quando ele descreve o trabalho não-assalariado no capitalismo contemporâneo como sendo parecido com as atividades de polinização das abelhas. Circular na cidade, pelos territórios, é exatamente como ir de flor em flor. Um sem-número de encontros aleatórios que fecundam a vida social e criam a riqueza. Contudo, é apenas o trabalho das abelhas que é reconhecido, quando elas produzem excedentes de mel e cera na colmeia-fábrica, onde elas são abelhas “operárias”, assalariadas. O problema da sociedade pólen, como já dissemos, é que quase toda a riqueza vem da polinização, mas as abelhas só recebem uma remuneração e uma proteção social quando conseguem estabelecer alguma conexão com a colmeia. A conversão se baseia em um pagamento (assalariado) que só pacifica segmentos minoritários do trabalho difuso que não encontra seu preço, sua paz. O novo pacto é aquele capaz de reconhecer o trabalho de polinização e produzir então a moeda adequada a essas novas instituições, ou seja, uma renda universal de remuneração das abelhas polinizadoras.
De repente, temos também a possibilidade de pensar de alguma maneira o impasse da conversão da violência em moeda, em civilidade, como diria Étienne Balibar. A reforma da previdência deveria ser o terreno dessa inflexão institucional e, nesse sentido, participar da emissão fiduciária de uma moeda que seria do comum. Temos no Brasil um ponto de vista privilegiado para apreender esse desafio: por um lado, porque aqui a previdência já funciona – para os mais pobres – como um sistema de renda de alguma maneira descolado do trabalho; pelo outro, porque as primaveras árabes aqui se manifestaram em duas mobilizações sociais das abelhas polinizadoras: com o MPL, em junho de 2013 e sobre a polinização metropolitana, e com os caminhoneiros, em 2018, no terreno da polinização logística continental.
Aqui encontramos também um ponto de vista para pensar o quase colapso do Rio de Janeiro e a tragédia de Muzema (o desmoronamento de dois prédios construídos de maneira ilegal em área controlada por “milicianos”). A expansão das milícias, que começou na década de 1990 e foi se alastrando nos governos de coalizão entre PT e PMDB – e que hoje parecem não apenas controlar vastos territórios da metrópole, mas promover o crescimento imobiliário de novos bairros – acontece no âmbito de uma mudança dos fluxos de trabalho e valorização. Na passagem da fábrica para a metrópole, o controle do território não é mais algo que é periférico com relação ao processo de valorização, mas se trata do próprio processo de valorização. É desse deslocamento que vem a potência econômica crescente das redes mafiosas que hoje tem assento na representação política e chegam a querer produzir e incorporar o que antes apenas pilhavam a posteriori. Não é por acaso que o movimento de junho de 2013 no Rio de Janeiro tenha se desdobrado nas reivindicações contra as máfias dos transportes (as empresas de ónibus), as máfias do poder (o governo e o legislativo estaduais) e na questão da paz (o caso Amarildo). O movimento de Junho, em seu esforço constituinte, passou a uma crítica geral do sistema mafioso que parasita os fluxos de criação do valor na metrópole e foi uma verdadeira antecipação da operação Lava Jato, que levou uma boa parte das principais figuras desses “esquemas” para a prisão.
Ao mesmo tempo, a desconstrução do movimento de Junho e a resiliência da hegemonia petista sobre a esquerda levaram ao paradoxo do sucesso eleitoral da outra cara do fenômeno miliciano, aquela difusa capilarmente nos territórios da socialização policial e militar. O covarde assassinato de Marielle Franco se produziu nesse contexto e até agora os executores que foram presos fazem exatamente parte dessa “cara” difusa, promiscua com os discursos da ordem e o sistema generalizado de corrupção e violência dos aparatos repressivos do Estado, dos quais os novos governantes sempre foram a representação corporativa. Se a investigação sobre os mandantes for adiante e de maneira eficaz, talvez tenhamos uma fotografia que junta as duas dimensões do fenômeno do poder e da armadilha onde o movimento democrático se meteu a partir do momento que se deixou pautar pelo PT. Estamos hoje nesses paradoxos e em suas dimensões trágicas, mas é só saindo deles que o movimento democrático poderá recuperar sua dinâmica e produzir novos sentidos.
A greve-que-não-houve (essa dos caminhoneiros) mostra que mesmo dentro desse tremendo impasse, a sociedade continua se mobilizando. Da mesma maneira que a primavera árabe não parou em 2011 e não foi normalizada pelas tragédias da Síria, do Iêmen e da Líbia: no Sudão e na Algéria, as multidões continuam a praticar a democracia, assim como os coletes amarelos o fazem na França. É desses movimentos que dependemos para avançar e sobre isso que precisamos acumular nossas reflexões teóricas e práticas.
Rio de Janeiro 1 de Maio de 2019 – versão provisória
Revisão: 5 de maio de 2019 – Luiz
[1] Em Bruno Cava e Márcio Pereira (Orgs.), A Terra Treme, leituras do Brasil de 2013 a 2016, Anna Blume, São Paulo, 2016.
[2] Coleção “Máquinas, Linhas e Territórios”, Autografia, Rio de Janeiro, 2018.
[3] Em Signes, Paris, 1960 (Folio essais).
[4] A comuna de Cronstadt era formada pelos conselhos (sovietes) dos operários e dos marinheiros da cidade báltica da recém constituída URSS. Eles afirmaram sua autonomia diante do poder centralizador bolchevique. Já em 1921. Lenine e Trótsky decidiram e conduziram a repressão, matando milhares de operários e soldados, inclusive as famílias dos marinheiros que tinham sido feita reféns. Vide Alexander Berkman, El mito bolchevique Diário 1920-1922, La Malatesta, Madrid, 2013.
[5] O “estrangeiro” nesse caso seria o colonialismo britânico. A obra de referência é o livro clássico de C.L.R. James, Os Jacobinos Negros (1938). Rio de Janeiro: Boitempo, 2000.
[6] Ibid., p. 362.
[7] Traduzimos como “enigma” o que Merleau-Ponty define como “problema”. Ibid. p. 363. Grifos nossos.
[8] Merleau-Ponty finaliza seu artigo inaugurando a oposição entre Maquiavel e o maquiavelismo: “Há uma maneira de trair Maquiavel que é maquiavélica, se trata da piedosa esperteza dos que conduzem seus olhos e os nossos em direção ao céu dos princípios para desvia-los do que fazem. Há uma maneira de atuar Maquiavel que é totalmente contrária ao maquiavelismo, pois que ela honra em sua obra uma contribuição à clareza política” (ibid., p. 364). .
[9] Claude Lefort está comentando Humanisme et Terreur de Merleau-Ponty, “D’um doute à l’autre”, Esprit, junho de 1982, em Écrits, cit., p. 493.
[10] Cf. Mario Tronti, Operai e Capitale, Einaudi: Torino, 1970. Particularmente “The Progressive Era”.
[11] Vide Mario Tronti, Il tempo dela politica, Editori Riuniti, Roma, 1980. Antonio Negri criticou Tronti em vários de seus livros e já em 1978, em Il Dominio e il sabotaggio, Feltrinelli, Milano. Para uma resenha do debate, Dario Gentili, “Una crisi italiana. Alla radice della teoria dell’autonomia del politico”, MigroMega, Fevereiro de 2013. Disponível em http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/02/27/una-crisi-italiana-alla-radice-della-teoria-dellautonomia-del-politico/
[12] Outros temas urgentes são os que envolvem a relação entre sociedade e Estado, assim como é possível fazer a partir do debate furioso que se desenvolveu sobre Foucault, particularmente sobre suas interpretações do papel do Estado. Vide Stephen W. Sawyer, “Foucault and the State”, The Tocqueville Review/La revue Tocqueville, Volume 36, Number 1, 2015, pp. 135-164. Isso leva à discussão sobre a governamentalidade neoliberal, por exemplo no encontro entre François Ewald e Gary Becker Gary S. Becker François Ewald Bernard E. Harcourt, “Becker on Ewald on Foucault on Becker American Neoliberalism and Michel Foucault’s 1979 ‘Birth of Biopolitics’ Lectures”, Coase-Sandor Working Paper Series in Law and Economics, Chicago, 2012. Vide também Giuseppe Cocco e Bruno Cava, New Neoliberalism and the Other. Biopower, Anthropophagy and Living Money, Lexington, 2018.
[13] Revista Trágica: estudos de filosofia da imanência, 1 quadrimestre 2015 – vol. 8 – n. 1. PPGF da UFRJ. Publicado originalmente em Les Nouvelles littéraires, 3-9 de maio de 1984, pp. 75-76. Tradução de Mariana de Toledo Barbosa.
[14] “L’Analyse marxiste et le fascisme”, Les Temps Modernes , 1945, n. 2 em Claude Lefort, Écrits 1945 – 2005, Belin, Paris, 2007, p. 34.
[15] Há uma outra maneira de se falar do fenômeno que é usando o termo – bem mais ambíguo – de “populismo” ou “populismos”. Vide por exemplo Paolo Gerbaudo, The Mask and the Flag. Populism, citizenism and global protest, Hurst & Company, Londres, 2017. Vide também a resenha de Alexandre Mendes, “O que podem as mascaras e as bandeiras”, site Uninômade Brasil, disponível em https://dev.integrame.com.br/tenda/o-que-podem-as-mascaras-e-as-bandeiras/
[16] Como no episódio do veto “presidencial” ao clipe publicitário do Banco do Brasil sobre “multiculturalismo”, em maio de 2019.
[17] A Central European University de Soros em Budapest teve que fechar as portas. É interessante lembrar que a esquerda muitas vezes faz as mesmas críticas, por exemplo a outra fundação que recebe recursos de Soros, a Open Democracy. Sobre a Universidade, vide: https://www.forbes.com/sites/susanadams/2018/12/04/why-hungary-forced-george-soros-backed-central-european-university-to-leave-the-country/#28d403ba533e
[18] A presença do Primeiro Ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também é emblemática e – sem poder aqui desenvolver o tema – mostra como os atalhos nacionalistas e identitários sempre levam para descaminhos, nesse caso na aliança entre um estado que se define como judaico e figuras políticas que estão renovando o antissemitismo. Vide por exemplo Charlie Werzel, “Mass Shootings have become a Sickening Meme: online messages from suspects in shootings at California synagogue and New Zeland mosque were similar”, New York Times, 28 de abril de 2019, disponível em https://www.nytimes.com/2019/04/28/opinion/poway-synagogue-shooting-meme.html.
[19] “La situation sociale en France”, Socialisme ou Barbarie n. 10, 1952. In Écrits, cit. p. 87.Grifos nossos.
[20] Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-Sens (1966), Gallimard: Paris 1996.
[21] Ibid. p. 124. A referência é a Charles Maurras, poeta e pensador francês que fundou a ultranacionalista Action Française e, depois da ocupação nazista da França, apoiou com entusiasmo o governo colaboracionista do marechal Petain assim que suas leis raciais (antissemitas).
[22] Sens et non-Sens, cit., pp. 124-5. Grifos nossos.
[23] Ver Étienne Balibar, Violence et civilité. Wllek Library Lectures et autres essais de philosophie politique, Galilée, Paris, 2010.
[24] Vide Giuseppe Cocco e Bruno Cava, New Neoliberalism and the Other. Cit. Em particular os capítulos 5 e 6.
[25] Vide por exemplo Elettra Stimilli, Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo, Quodlibet, Macerata, 2011.
[26] Sobre as definições marxianas do capital financeiro como sendo fictício, ver Nigel Dodd, The Social Life of Money, Princeton, Princeton, 2014, p. 55 e seguintes.
[27] Pedro Ferreira e Renato Fragelli, “Populistas e liberais, em equilíbrio precário”, jornal Valor, 18 de abril de 2019.
[28] Maria Cristina Fernandes, “Divórcio de bolsonaristas começou na estrada”, b, 12 de abril de 2019.
[29] Fabio Giambiagi, “O radicalismo e a economia”, O Globo, 9 de abril de 2019.
[30] Editorial do Globo, Ö risco de mais uma década perdida no Brasil”, O Globo, 20 de abril de 2019.
[31] José Casado, “O custo da desconfiança”, O Globo, 16 de abril de 2019.
[32] Míriam Leitão, “A América Latina e o populismo”, O Globo, 18 de abril de 2019.
[33] Julia Braga e Fernando Lara, “Há motivos para recuperação dos investimentos? Corte de gastos é recessivo e deteriora ainda mais os indicadores fiscais”. Valor, 18 de abril de 2019.
[34] André Lara Resende, “Razão e Superstição”, Valor, 18 de abril de 2019.
[35] David Graeber, Debt: The first 5.000 years, Melville House, New York, 2011.
[36] André Lara Resende, “Razão …. “, Cit.
[37] Ibid.
[38] Ibid.
[39] André Lara Resende, “Consenso e Contrassenso: déficit, dívida e previdência”, Valor Econômico, 8 de março de 2019.
[40] Nigel Dodd, Cit., p. 24 e na nota 12.