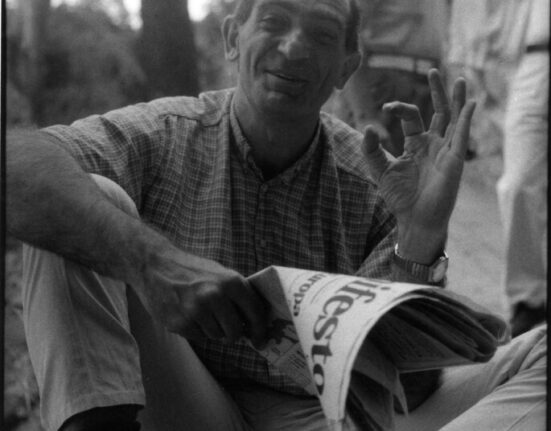Frankfurter Allgemeine Zeitung (09/10/2022)
Quando se sai da Alemanha de vez em quando e se viaja para um dos países do chamado Sul Global, alguns dos discursos alemães sobre estas regiões parecem – não há outra maneira dizê-lo – insanos. E até mesmo totalmente autocentrados e provincianos. O próprio termo Sul Global é completamente inútil, uma vez que significa tudo e nada.
Não é que “países em desenvolvimento” ou “emergentes” sejam termos melhores, porque evocam mais ideias (olhos de crianças famintas e chaminés cuspindo fumaça) do que efetivamente descrevem: o que, como e em que direção está se desenvolvendo ali? Quando um país se torna efetivamente desenvolvido?
Em minhas leituras, aprendo que o termo Sul Global também se destina a descrever as relações de poder colonial, a exportação do sistema econômico e social capitalista, e também a difusão mundial dos sistemas de conhecimento europeus, que, por sinal, também incluem as ideias do Iluminismo, do universalismo e os valores democráticos. Pode-se concordar com isso até certo ponto, e basta pensar na devastação e nos conflitos que o colonialismo legou a muitos países até os dias hoje. Mas quando se lê quais países fazem parte do chamado Sul Global, aí a coisa se torna absurda.
A Turquia, por exemplo, é o Estado sucessor do Império Otomano, que começou a raptar negros como escravos já no século XV. Ao longo dos séculos, o número de escravizados negros chegou a um milhão, até que a escravidão foi oficialmente abolida – bastante tarde – em 1857 (o racismo em relação aos negros mantém-se até hoje). Digo absurdo, entre outras razões, por causa da história de perseguição, discriminação e até mesmo extermínio de minorias (curdos, alevitas, yazidis, armênios, para citar apenas alguns) e a política expansionista (guerras fora das próprias fronteiras do país e a exportação da ideologia islamista mundo afora). O termo Sul Global parece, assim, significar apenas aquelas relações de exploração e opressão nas quais a violência emana do maligno Ocidente.
Sobre as ditaduras que veem a si mesmas como anticoloniais e antiocidentais, tais como o regime Assad na Síria ou a República Islâmica do Irã, nem uma palavra. Quando os acontecimentos colidem com a própria visão do mundo e não podem mais ser ignorados, instala-se a confusão: sim, como classificar os véus queimados pelas mulheres durante os protestos contra o regime iraniano? Afinal, será talvez racismo anti-muçulmano? As pessoas asseguram que este regime nada tem a ver com o Islã, nada tem a ver com religião. E isso apesar de o regime iraniano se autodenominar uma república islâmica e, de acordo com sua própria constituição, compreender a si mesmo como um Estado religioso, cujo chefe oficial é o Mahdi, o último e oculto Imã – uma entidade salvífica para os xiitas, representada pelo jurista supremo, o Aiatolá, até o dia do seu retorno.
Na verdade, não existe “o” Islã. Como todas as religiões, o islamismo pode ser interpretado e vivido da melhor maneira possível, ou da maneira mais terrível (embora, falando a partir de minha experiência yazidi, eu não necessariamente considere as religiões expansionistas como algo inofensivo). Mas por que qualquer discussão sobre a religião, ou a crítica da religião e seu uso político é recebida com feroz resistência? Será por causa dessa estranha ideia de que a crítica à religião e suas instituições é basicamente iluminista e, portanto, colonialista? As pessoas estão tão apegadas à sua visão de mundo pós-colonial a ponto de não querem ver a islamização forçada das minorias religiosas ao longo de séculos? Nem mesmo quando, como com os yazidis em 2014, isso resulta em genocídio – perpetrado em nome do Islã?
Não apenas na crítica à religião há motivos para a perplexidade. O mesmo acontece quando se observa Bagdá, onde manifestantes exigem que o seu país lhes seja devolvido, não é ao domínio colonial ocidental que estão se referindo, mas à sua própria elite corrupta. Ou quando vemos a República Islâmica do Irã, que exerce a violência não apenas dentro das próprias fronteiras, mas também na Síria (com pelo menos 1.000 combatentes mortos), no Iêmen (onde apoiam os rebeldes huthi), no Líbano (com as suas milícias do Hezbollah) e na Região Autônoma do Curdistão (que regularmente bombardeiam).
Então, não se pode pregar água e ao mesmo tempo beber vinho. É evidente que o Ocidente deve se medir segundo os seus próprios padrões (respeitando os direitos humanos dos refugiados no Mediterrâneo, por exemplo). Mas permanece um mistério a razão pela qual, em nome do anticolonialismo, não se atribui a devida importância às ideias de individualidade, democracia e liberdade no chamado Sul Global. Em especial quando o grito de liberdade soa particularmente alto, como agora nas ruas do Irã.
Visto da Região Autônoma do Curdistão iraquiano, onde estou escrevendo esta coluna neste momento, e onde apenas algumas horas atrás caiu um foguete iraniano, bem, este discurso anticolonial alemão é percebido de uma forma ligeiramente diferente.
. . .
Ronya Othmann nasceu em Munique, filha de mãe alemã e pai curdo-yasidi, em 1993. Além de escrever regularmente na imprensa, publicou em 2020 o romance Der Sommer, sobre a guerra civil na Síria e o genocídio dos yasidis. Seu volume de poesias Die Verbrechen apareceu no ano passado.