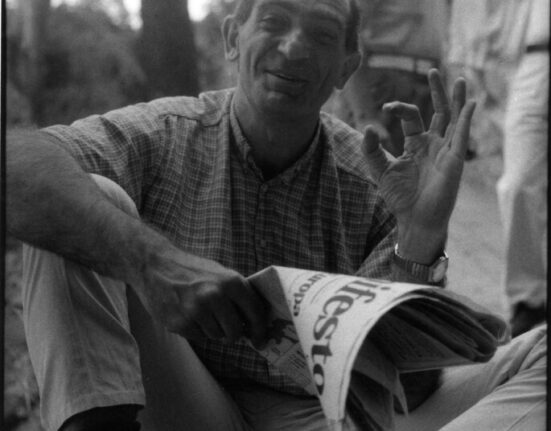Lanfranco Caminiti, Chicco Galmozzi, Brunello Mantelli (e mais de 200 assinaturas na Itália) | 1 de outubro de 2023
1 – A invasão da Ucrânia é a tentativa russa de encerrar militarmente, sob um tacão de ferro, o processo político iniciado com a queda do Muro de Berlim e a progressiva aproximação do Leste ao Oeste, depois da longa “cesura” da segunda metade do século XX; assim começava a reconstituição da Europa, historicamente articulada em múltiplos espaços, e nunca brutalmente separada em Leste e Oeste como ocorreu depois de 1945-48. A “solução” desta guerra será, pois, a configuração política da Europa: uma vitória russa congelaria de fato, ainda que por uma ameaça iminente talvez apenas suposta, que se tornaria (e em parte já se tornou) “a” questão nacional de vários países da antiga Cortina de Ferro, qualquer hipótese de uma Europa mais ampla e integrada.
2 – Neste momento, qualquer discurso de paz – mesmo declinada “justa” – e de negociação diplomática não passa de um enquadramento linguístico para a concessão de territórios e a tomada pela Rússia de opções soberanas ucranianas, portanto o reconhecimento implícito das razões de agressão de Putin e de uma “postura” ameaçadora no futuro. Não há “contrapartida”, nem militar (um reforço da OTAN na Europa e dos aparelhos militares nacionais) nem econômica (um enorme fluxo financeiro para a reconstrução do que resta da Ucrânia destruída), para o que seria realmente a “contra-história política” de 1989 e daquelas esperanças. Ou para a redução da Europa a uma mera expressão geográfica, com uma dolorosa fratura interna, nem mesmo para um recuo seu, propriamente nacionalista. Assim, mais de um século e meio depois das previsões marxianas expressas nos textos “Marx contra a Rússia”, a ideia de uma Rússia capaz de esmagar qualquer desejo de emancipação na Europa se reconcretiza.
3 – Portanto, os destinos da Europa estão em jogo na Ucrânia. Assim, não é casual nem bizarro que aqueles que nunca acreditaram num processo de construção e refundação da Europa e na sua possível declinação como um grande espaço sem guerras, onde os direitos e garantias dos trabalhadores e dos cidadãos possam ser progressivamente reforçados, aqueles, em suma, que fizeram do credo nacionalista das fronteiras fechadas, das “diferenças” entre cidadãos, a sua linha de propaganda e de política, tal como aqueles que, por outro lado, defendem um mundo ecuménico dos mínimos onde há “mais” do que a Ucrânia, tomaram partido, tanto à direita como à esquerda radical, cada vez mais abertamente contra a Ucrânia. A Ucrânia é um “pretexto”, tal como o é para Putin – o grande alvo é a Europa. A Europa possível. A guerra da Rússia contra a Ucrânia funcionou, portanto, como um catalisador de todas as posições e impulsos hostis à Europa real e possível, atuando como o cimento da frente “vermelho-castanho” (Social-Fascista).
4 – A permeabilidade desses “argumentos” depende inteiramente da fragilidade da União Europeia. Uma Europa já forte, um “sentimento” social, não teria tido a mínima consideração por todos aqueles que, desde 24 de fevereiro de 2022, pregam uma paz que é, de fato, sinônimo de rendição. Não foi esse o caso. E a fraqueza de um argumento, todo ele ideológico e retórico, mas frequentemente utilizado pelos pró-ucranianos, do choque entre autoritarismo e democracia, reside aqui. Em vez disso, o que acontece é que a Ucrânia, anteriormente culpada por ter resistido à agressão, tornou-se agora duplamente culpada pela sua “contraofensiva que não consegue atravessar”. A frase de efeito, por agora, é: “a situação está estagnada” – e, por isso, temos de avançar rapidamente para uma “paz justa”, ou seja, a cedência de território. Este Leitmotiv é entoado pela direita e pela esquerda, à revelia de qualquer consideração militar razoável, que, pelo contrário, sugere que a contraofensiva ucraniana não deve ser medida em quilômetros reconquistados, mas na sua capacidade de, primeiro, forçar a Rússia a mudar para uma postura defensiva rígida (excluindo o terrorismo aéreo) e, depois, no possível corte de laços entre a Crimeia e outros territórios russos. A “questão ucraniana” deve ser descartada o mais rapidamente possível – indiferença, aborrecimento e intolerância são os sentimentos que prevalecem atualmente em relação à Ucrânia. A isto junta-se a “urgência” de setores do capital em intervir nos fluxos financeiros da reconstrução e em retomar as trocas comerciais com a Rússia – uma vez que, como outra frase batida há muito vem repetindo, “as sanções não funcionam” e, por isso, a sua remoção fará parte da “paz justa”, com a consequente retoma dos fluxos de metano – e lá se vai a virada “verde”.
5 – A começar pela Alemanha, os governos Europeus ficaram surpresos e deslocados com a invasão: O gás russo estava fluindo e, por isso, tudo parecia andar normalmente segundo os “cânones” dessa Ostpolitik que durante décadas marcou as relações comerciais e diplomáticas, com vantagens mútuas; A Ostpolitik alemã, que tinha a sua razão de ser mais do que razoável enquanto enfrentava a URSS, cujo grupo dirigente estava interessado em manter o status quo, mas que se tornaria uma causa de cegueira perante uma Federação Russa cujo grupo dirigente, aqui e agora, é animado por impulsos neo-zaristas e neo-estalinistas num molho nacional-ortodoxo. Os avisos das agências americanas sobre a concentração de tropas russas nas fronteiras foram ignorados porque ninguém queria ou podia acreditar numa invasão. Ninguém estava “preparado” para tal acontecimento, nem de longe. Para além disso, a Europa tinha sido duramente atingida pela Covid e tinha passado laboriosamente pela decisão de juntar as dívidas e relaxar o regime de austeridade, agora insustentável, pela primeira vez. Era, isto é, politicamente falando, o momento de maior incerteza, de navegar em águas desconhecidas. Se a blitz inicial de Putin tivesse funcionado, com o avanço do norte em direção a Kiev e a tomada do aeroporto de Hostomel (o aeroporto de Kiev), a fuga de Zelensky e do governo, e a instauração de um regime obediente a Moscou – é provável que não tivesse havido mais do que protestos vibrantes e um controverso plano de acolhimento de refugiados: a Ucrânia ter-se-ia tornado uma outra Bielorrússia. Os governos europeus – e tudo o testemunha para dizê-lo, mesmo o governo americano, cujas preocupações geopolíticas se dirigiam sobretudo para a China, como as “internas” do choque e das consequências da subversão de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio, bem como da retirada falhada do Afeganistão, deixada nas mãos dos talibãs, retirada que não por acaso ocorreu cerca de seis meses antes do ataque russo à Ucrânia, e seis meses é o tempo necessário para a organização logística de um plano de ofensiva militar – foram surpreendidos e deslocados pela resistência ucraniana: o “fator imponderável” desta guerra. E Volodymyr Zelensky tornou-se o verdadeiro símbolo da resistência à agressão.
6 – Só depois da súbita e improvisada resistência da Ucrânia é que os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Europa se decidiram pelo apoio financeiro e militar – declarando, no entanto, desde logo, duas coisas: que nunca haveria uma única das suas botas no terreno e que o território russo nunca seria atingido, desencadeando uma espiral de guerra total e nuclear, a escalada a evitar a todo o custo, em suma. A decisão mais óbvia foi imediata: não estabelecer uma “zona de exclusão aérea”, como exigiam os ucranianos, e à semelhança da que foi estabelecida na altura sobre as zonas curdas do Iraque, sem, no entanto, ordenar a Moscou que não atacasse o interior da Ucrânia. Ou seja, um apoio que corria o risco de “congelar” o conflito desde o início, numa guerra de posição e de desgaste. Um apoio “relutante”: apesar das primeiras declarações inflamadas de Biden após os horrores de Bucha – Putin, o carniceiro, a necessidade de mudança de regime -, os Estados Unidos contentaram-se com uma longa duração, destilando uma ajuda militar que, além disso, requer tempo de treino, contando relativamente com a “contraofensiva” que os ucranianos garantiram que libertaria os territórios invadidos, e visando uma “politização” e “economização” mundial da guerra (envolvendo o mundo, a começar pela ONU, e multiplicando as sanções) para esgotar e isolar a Rússia. Mas, para além de recomendações vãs, nunca foi além disso. Não contavam, os americanos, com o momento político mundial – o nacionalismo desenfreado.
7 – O nacionalismo desenfreado, que na Europa é representado pelas direitas mais agressivas, tem no mundo a forma de “multilateralismo”: a Índia de Modi é ultranacionalista, a China de Xi é ultranacionalista, a Rússia de Putin é ultranacionalista – todos regimes absolutistas bem estáveis e pouco suscetíveis de mudar de ritmo em breve. O nacionalismo desenfreado – orgulho chinês, russo, indiano, por vezes até declinado sob a forma religiosa: hindu, ortodoxo ou muçulmano para outros – é de fato a “cola” da sua estabilidade interna. Para todos eles, a Ucrânia é um pretexto, o grande alvo é a América. Eles não contavam, os Estados Unidos, com o nacionalismo galopante no mundo – cuja forma política é o antiocidentalismo, e cuja forma mais proeminente é o antiamericanismo.
8 – Mas este não é o “ajuste de contas” dos povos oprimidos e colonizados contra a longa dominação do império americano: o antiocidentalismo é hoje um sentimento reacionário e retrógrado, que se inclina, por um lado, para um fundamentalismo religioso que se consubstancia num domínio absoluto sobre os corpos e as mentes e, por outro, para um mistério de trevas, onde reinam as intrigas e as conspirações. O anti-ocidentalismo é hoje um pensamento trivial: basta agora dizer dois slogans banais contra o “pensamento único”, que ninguém sabe bem o que significa, ou contra o “neoliberalismo”, que assume a função que outrora teve Satanás nos sermões dos párocos do interior, e que, por isso, parecem já ter tudo claro: “o Ocidente”, na narrativa do fundamentalismo e da direita reacionária, é demasiado tolerante, demasiado livre, demasiado feminizado, demasiado igual, demasiado laico, demasiado mulato, demasiado debochado. Et voilà. Péssimos sentimentos precisamente no seu absolutismo totalizante – onde o que é transitório (o Estado, o governo, as formas da economia) se torna um “traço antropológico” de um povo, a história torna-se etnia: A América é o capitalismo, o reino do mal. Não há conflitos, não há lutas, não há movimentos sociais, não há diferenças políticas: é “tudo uma coisa só”. Que, para dar um exemplo atual, o UAW tenha entrado em greve em simultâneo com a Ford, a General Motors e até a Stellantis (ou seja, a FIAT), e que os trabalhadores intelectuais da “gig economy” se tenham organizado em “guildas”, ou seja, numa das antigas formas de organização dos trabalhadores, e lutem contra as grandes empresas de entretenimento, os “campistas” não querem saber. A América é o “grande Satã”, como gostava de dizer a alma má de Ruollah Khomeini. Por outro lado, tudo o que não é a América ou é contra a América tem os traços dos “bons”: podem ser assassinos, mas são os “nossos” assassinos. É o campismo, e não há como escapar-lhe.
9 – A situação no terreno é complexa: os russos, ao recuarem para uma estratégia estritamente defensiva, puseram tudo em causa ao pretenderem talvez não tanto abrandar a contraofensiva ucraniana como mutilar o seu exército: é o “fator humano” numa guerra que nos pode levar de volta a Verdun. Há quem calcule em meses o esgotamento das “reservas humanas” dos ucranianos; enquanto os russos, do ponto de vista da quantidade, podem contar com números quase ilimitados, mesmo que não sejam os conscritos, numa guerra em que a tecnologia desempenha um papel crucial, que são a carta decisiva, como os chineses tiveram de aprender à sua custa quando atacaram o Vietname em 1979, sendo derrotados. E há quem tenha colocado um “prazo” para a contraofensiva ucraniana: até dezembro – nessa altura, o inverno e a lama atrasariam qualquer possível avanço, apesar de, como já foi salientado, o sucesso da Ucrânia não se medir em quilômetros, mas na sua capacidade de desgastar as forças de elite russas e chegar ao Mar de Azov. Não somos peritos militares e não estamos no terreno: colocamos aqui a questão política da guerra na Ucrânia. A começar pela sua enormidade – porque a guerra na Ucrânia é um enorme fato da história. Toda a parafernália política e intelectual do século XX tornou-se subitamente obsoleta, visivelmente obsoleta face à agressão russa contra a Ucrânia. O único que parece ter consciência disso e que se prodigaliza em “raciocínios históricos” é Putin, mas, curiosamente, os seus discursos sobre a Grande Mãe Rússia, os erros do bolchevismo, a podridão das democracias ocidentais e a continuidade do império czarista são vistos aqui como redundâncias. Na realidade, esse “pacote” de considerações que considera o realismo – a Realpolitik -, o fato de se alinhar com os desejos de Putin, engolindo o sapo da Ucrânia, não passa de “pensamento mágico”: confiar na “magia da paz” (na versão laica; na versão religiosa: a “religião da paz”) e esperar que funcione. Desnecessário dizer que esta “paz”, incluindo a desejada pelo Vaticano, faz lembrar muito a “paz dos cemitérios” da memória tacitiana.
10 – E a questão política que se coloca com a guerra da Ucrânia é a Europa. Uma Europa que hoje é fraca, frágil, indecisa, muitas vezes retrógrada e, portanto, longe até dos seus próprios pressupostos fundadores. Só o crescimento de novos movimentos de justiça social pode assumir a construção de um espaço europeu. Este é o “desafio político” que a guerra na Ucrânia coloca – e é por isso que, desde o início, temos estado ao lado dos representantes, dos movimentos de jovens, mulheres, sindicatos, socialistas, libertários, radicais que, muitas vezes até contra os seus próprios princípios, foram para a linha da frente ou para a retaguarda, não importa, para se defenderem da agressão russa. Esta é a opção política e militante, a “terceira via” entre a guerra e a paz. Transformar a guerra no ato fundador da Federação Europeia.