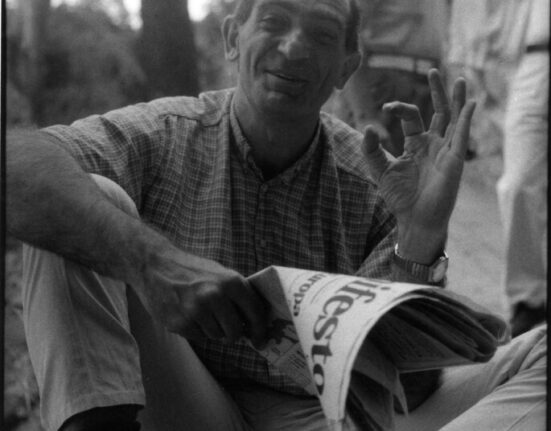Lanfranco Caminiti, Corrado Carlevaro, Gianluca Cicinelli, Chicco Galmozzi, Brunello Mantelli, Elisabetta Michielin, Francesca Veltri.
Tradução: Felipe Fortes
Talvez seja melhor dizer logo as coisas como são: a irrupção da presidência Trump tem um efeito devastador sobre a política europeia — ninguém esperava tamanha brutalidade e aceleração. A Europa ainda está atordoada e perplexa: as declarações de Vance na Conferência de Munique tiveram o mesmo impacto chocante do dia 24 de fevereiro de 2022; há poucos dias, o voto distinto e oposto na ONU, exatamente três anos depois, sobre uma resolução pela independência e integridade da Ucrânia, institucionalizou essa distância. O confronto verbal entre Trump e Zelensky no Salão Oval, diante dos olhos do mundo, foi somente a certificação explícita disso: a partir deste momento, “o Ocidente” é apenas uma expressão geográfica.
É preciso dizer também que “política europeia” é uma definição extremamente vaga; não apenas porque continuam a existir forças centrífugas marcadas pelo nacionalismo anti-europeu, mas porque nunca se considerou seriamente o impulso russo para romper o limes da Europa a leste — do qual a Ucrânia já é uma trincheira de guerra, mas todas as outras nações, do Báltico ao Mar Negro, estão submetidas a diversas pressões e tensões. O possível acordo entre Trump e Putin sobre “um pedaço” da Ucrânia é, na verdade, um acordo sobre um pedaço da Europa: Putin quer tomar uma parte da Europa, e Trump está legitimando isso. Mas toda a retórica putinista sobre a inexistência da Ucrânia como nação independente e a suposta pertença histórica dessas terras à Mãe Rússia permite imaginar que essa não será a solução final: Putin quer uma Ucrânia à sua imagem e semelhança. Desde 24 de fevereiro de 2022, a defesa desse limes sem concessões, inclusive com “botas no chão”, deveria ter sido a política europeia — uma questão de constituição política, não de opinião pública. Se fez algo, mas não o suficiente; observou-se o conflito político na Bielorrússia, as eleições na Geórgia, na Moldávia, na Romênia, como se fossem eventos no Bornéu ou no Nepal, meros acontecimentos “exóticos”. Trump, enfim, está se aproveitando de um animal perdido e ferido.
Atualmente, existem cinquenta e seis conflitos armados no mundo — não há apenas a Ucrânia e Gaza — o maior número já registrado desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A maioria desses conflitos não ocorre entre Estados, mas dentro de suas fronteiras: em Myanmar, há cerca de duzentos grupos armados em combate mútuo; a África está dilacerada: há guerra na Líbia; no Sahel — Mali, Burkina Faso, Níger — os governos controlam apenas partes do território, disputado entre jihadistas, russos e outros grupos; há combates no Sudão, no Chifre da África, na região dos Grandes Lagos: Ruanda, Congo, Uganda; no Iêmen; os governos do México e da Colômbia estão em guerra aberta contra os cartéis de drogas, mobilizando o exército contra eles; a Turquia continua a bombardear Rojava; a Síria ainda é um teatro de guerra; e há mais. Não apenas o número de mortos e feridos nessas guerras aumentou, mas o número de deslocados disparou assustadoramente: estima-se que cerca de cem milhões de pessoas tenham sido forçadas a fugir da devastação de suas terras — um êxodo impressionante. As guerras atuais são travadas entre etnias, religiões, tribos, e por ambições imperialistas e locais de controle sobre riquezas e territórios que já são ou podem se tornar nós estratégicos para trocas e rotas de comunicação. Esses conflitos são manifestações do caos sistêmico, resultado do colapso dos dois grandes ordenadores do pós-guerra, EUA e URSS. Nenhuma “missão internacional de paz” consegue conter esses confrontos. Nesse contexto de caos sistêmico, emergem potências que, sem capacidade hegemônica, tentam ampliar seu espaço: uma delas é o Islã radical, outra é a Rússia, e outra ainda é a China. Mas os interesses econômicos dos antigos e novos imperialismos coloniais não bastam para explicar essa fragmentação bélica, nem a transformação de exércitos miseráveis em proxies deste ou daquele poder. Uma vontade de morte — e de insignificância da vida — está tomando conta do mundo: no future. Justamente quando — apesar da persistência da fome e da seca — nunca fomos tantos no planeta com expectativas de vida tão altas.
As cenas de “caça ao imigrante” no último verão no Reino Unido, após o assassinato de três meninas em uma escola de dança em Southport pelas mãos de um britânico de 17 anos de origem ruandesa — quando mesquitas, lojas administradas por imigrantes e hotéis para requerentes de asilo foram atacados — são cenas de guerra civil. Os primeiros confrontos ocorreram em Rochdale e Manchester, impulsionados pelo boca a boca nas redes sociais, mas chegaram até Downing Street, com hordas de vândalos entoando “Rule Britannia” e gritando “stop the boats”. O ódio contra os imigrantes transbordou — e os episódios violentos, muitas vezes com vítimas fatais, como incêndios em centros de acolhimento, já não são mais contáveis em toda a Europa. É o mesmo ódio que, em janeiro e fevereiro deste ano, levou um requerente de asilo afegão a esfaquear várias pessoas em um parque em Aschaffenburg, matando uma criança de dois anos e um homem de 41. O mesmo ódio que, em Magdeburgo, fez um cidadão saudita jogar seu carro contra a multidão em um mercado de Natal, causando seis mortes. Episódios semelhantes ecoam o que já aconteceu nos últimos anos em Mannheim, Solingen e Berlim. Há poucas semanas, um jovem afegão lançou seu carro contra uma multidão no centro de Munique. Ataques similares, esfaqueamentos aleatórios em locais movimentados, ocorreram por toda a Europa — embora muitas vezes não possam ser somados entre si, justamente porque não são coordenados por uma rede ou organização (como aconteceu com a jihad da Al-Qaeda antes e do ISIS depois), mas são na maior parte atos individuais. Assim como o jovem pálido e fortemente armado que, em Örebro, na Suécia, invadiu uma escola de formação e ensino de línguas para imigrantes e abriu fogo incessantemente antes de se suicidar — cometendo o maior massacre da história do país. A expulsão em massa dos imigrantes “não integrados” — chamada de “remigração” — já faz parte dos programas políticos de diversos partidos europeus, além de estar na agenda de Trump. Embora envolva, de um lado, cidadãos com documentação regular e, de outro, pessoas sem cidadania, e independentemente de qualquer política mais cautelosa sobre imigração, trata-se de um conflito que ocorre neste solo, onde todos são próximos: a ilegalidade, ou viver na margem da legalidade, não torna essas vidas menos próximas. Se o nazismo despojava os judeus de sua cidadania, atribuindo-lhes apenas um número de identificação, aqui o imigrante não recebe a cidadania, sendo deixado em um limbo burocrático, uma espera infinita. A relativização constante do universalismo dos direitos humanos nos levou a negá-los dentro de nossas próprias casas. O abismo de ódio mútuo entre “o homem branco” e “o homem negro” já está traçado, aqui e agora. Acima de tudo, esse ódio começa a contaminar os jovens de segunda geração — filhos de imigrantes que chegaram há tempos e conseguiram construir uma vida, mas que vivem uma bolha de exclusão e encontram identidade em um retorno às origens, uma identidade inventada. Vidas alheias são consideradas sem valor — mas também as próprias, que adquirem valor apenas no ataque: um raciocínio de soma zero. A violência política, que marcou todo o século XX, perdeu qualquer referência ideológica e social, qualquer motivação. Restou apenas a violência bruta — agressão, destruição, hooliganismo. Ela não se transforma em “projeto” ou instrumento — não busca conquistar um espaço, defender uma causa ou tomar o poder. Apenas aparece, desaparece e reaparece, em uma guerra de desgaste dos laços sociais. Quem pode, já privatizou completamente sua vida e a de sua família: residências, escolas, saúde são de acesso reservado e exclusivo, protegidas como novos limes. Aos demais, resta o que sobra da esfera pública — cada vez menos assistencial, cada vez mais deteriorada: agressões em pronto-socorros, ataques a professores, facadas frequentes entre jovens em praças, quando não surgem armas de fogo, o bullying transformado em passatempo — e o uso cada vez mais indiscriminado das forças policiais, focadas em repressão.
Será mesmo tão difícil perceber a conexão entre a guerra molar entre Estados, a guerra assimétrica da jihad e a guerra molecular dentro das metrópoles? Podemos realmente acreditar que estamos protegidos desse conflito e que ele ocorre apenas por procuração? Será que ainda não enxergamos o quadro geral desse quebra-cabeça de uma única guerra, preferindo descrevê-lo em pedaços, fragmentos, cenários isolados? Podemos mesmo pensar que algum tipo de negociação, trégua, rendição ou acordo de “paz” pode interromper esse colapso universal rumo à guerra? Estamos regredindo a um estágio primitivo da humanidade, quando a guerra civil era a norma — a forma primária e primitiva dos conflitos coletivos. Antes da criação dos Estados, dos exércitos organizados, da distinção entre militares e civis, e da Convenção de Haia de 1907.
A “fortaleza Europa” é uma ilusão: a Europa é uma peneira. Baseou toda a sua segurança na “bolha de acordo” que se seguiu à Segunda Guerra Mundial: a presença da OTAN, a política de apaziguamento para garantir o gás russo, os acordos para o petróleo iraniano e árabe, a China como fábrica do mundo, os estreitos marítimos para a logística dos grandes navios, a maior zona comercial do mundo e uma balança favorável, uma excelência em invenção e produção. Nenhuma dessas bases continua de pé. Mas a resposta não pode estar apenas em uma progressiva militarização, no aumento dos armamentos — embora seja necessário discutir uma defesa comum, assim como é essencial pensar em dois processos fundamentais: o desenvolvimento de um europeísmo social e cultural e o fortalecimento de um federalismo europeu, de uma cidadania europeia. A Europa não inventou o mercado nem as trocas comerciais; não inventou a pesquisa e a inovação tecnológica; tampouco o desenvolvimento dos meios produtivos. Nem mesmo inventou a soberania: o que a Europa inventou foi a ideia de que a soberania reside no povo e que um sistema político deve permitir que o povo se expresse por meio da liberdade de imprensa, de palavra e de associação, encontrando acordos sem recorrer às armas, sem recorrer à guerra civil. A Europa inventou a ideia de que todo ser humano nasce revestido de direitos. A Europa inventou a ideia de que a segurança de cada cidadão não está em seu próprio armamento privado nem na delegação do uso da força ao soberano — mas que a segurança de cada um está no bem-estar coletivo: nossa propriedade e nossa vida são protegidas pelo fato de que cada pessoa deve ter a oportunidade de estudar, trabalhar, empreender, receber cuidados adequados. Não existem “ilhas” de segurança se ao redor houver apenas devastação: mais cedo ou mais tarde, surgirão lanças e forquilhas. Por isso — é essa Europa que queremos. É essa Europa que exige ação política. São necessários investimentos gigantescos, planos ambiciosos para reformas estruturais, um sistema tributário mais justo para garantir serviços essenciais, passos concretos rumo a uma união fiscal: não podem existir áreas da Europa abandonadas à própria sorte, lugares de depressão sem futuro. É preciso reconstruir o tecido de um pensamento coletivo, o que passa também pelo acesso universal ao conhecimento e à tecnologia: o fosso digital é a nova fronteira da exclusão social. É preciso investir em infraestrutura digital aberta, em formação acessível, em plataformas livres de monopólios. Precisamos de uma dívida comum de grande escala — e não é verdade que a deixaremos para nossos filhos; o que é verdade é que, sem esse grande investimento comum agora, deixaremos para nossos filhos e netos uma terra arrasada.
A resposta à guerra civil global é a justiça social universal.
1º de março de 2025.