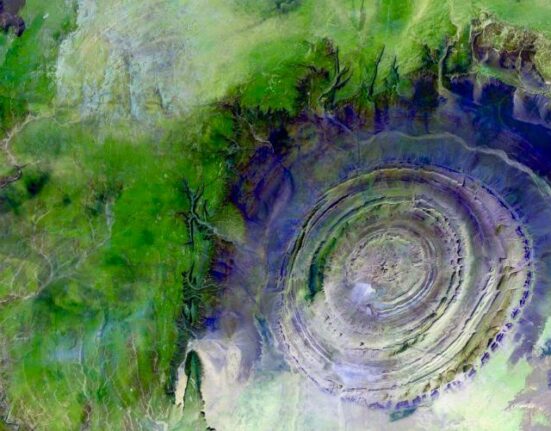Por Simon Reynolds | Trad. Bruno Cava
—

—
Tradução do prólogo do livro de Simon Reynolds, “Rasgue tudo isso e comece de novo”, sobre o movimento pós-punk e suas implicações políticas, estéticas e midiáticas, entre 1977 e 1984. Livro que soa extremamente contemporâneo e ao mesmo tempo intempestivo para se pensar o que fazer dentro do fim do mundo. Uma fuga para a frente, de destruição criativa, sair do impasse pelos meios do impasse e enfrentar os dilemas entrando neles. (N.E.)
Prólogo a “Rip it up and start again; post-punk 1978-84″, Simon Reynolds, Penguin: 2005.
No verão de 1977, o punk tinha se tornado uma paródia de si próprio. Muitos dos participantes originais do movimento sentiam que algo que era originalmente aberto e cheio de possibilidades tinha degenerado numa fórmula comercial. Pior do que isso, tinha se mostrado uma injeção revigorante direto no braço da indústria fonográfica predominante que os punks esperavam derrubar.
Foi nesse ponto que a unidade frágil forjada pelo punk entre jovens da classe trabalhadora e hipsters da classe média começou a rachar. De um lado, tinham os “punks verdadeiros” populistas (que depois evoluiriam ao Oi!/streetpunk e a movimentos hardcore) que acreditavam que a música precisava continuar acessível e despretensiosa, a fim de continuar exercendo o papel de voz para a raiva que vinha das ruas. Do outro lado, havia a vanguarda, que passou a ser conhecida como pós-punk e que via o ano de 1977 não como um regresso ao rock´n roll nu e cru, mas como chance de imprimir uma ruptura com a tradição.
A vanguarda do pós-punk — bandas como PiL, Joy Division, Talking Heads, Throbbing Gristle, Contortions e Scritti Politti — sintetizou a mensagem do punk como um imperativo pela mudança permanente. Elas então se dedicaram a levar adiante a revolução musical não terminada do punk, ao explorar novas possibilidades abraçando o eletrônico, o noise, o jazz e a vanguarda clássica, além de técnicas produtivas do reggae dub e da disco music.
Alguns acusaram esses experimentalistas de meramente escorregar de volta ao elitismo do rock de arte que o punk, originalmente, pretendia golpear. Certamente, é verdade que uma grande proporção dos músicos pós-punks tinha um passado em escolas de arte. A cena No Wave em Nova Iorque, por exemplo, era de ponta a ponta composta por pintores, cineastas, poetas e artistas performáticos. Gang of Four, Cabaret Voltaire, Wire e os Raincoats, apenas para citar um punhado de bandas britânicas criadas por ex-estudantes de belas artes ou design. Especialmente no Reino Unido, as escolas de arte há tempos funcionavam como um espaço de festa financiado pelo estado, onde jovens da classe trabalhadora rebeldes demais para uma vida de trabalho se amalgamavam com garotos da burguesia desajustados demais para uma carreira mediana. Depois da faculdade, muitos deles se voltaram à música pop como um modo de bancar o estilo de vida experimental que haviam desfrutado durante os estudos e que talvez, mas só talvez, conseguiria pagar as suas contas.
Claro, nem todo mundo no pós-punk frequentou escolas de arte ou mesmo a faculdade. Autodidatas com um método dispersivo e onívoro, como Jonh Lydon ou Mark E. Smith do The Fall se encaixam melhor na síndrome do intelectual anti-intelectual, vorazmente letrados, mas desdenhosos da academia e desconfiados ante as formas institucionalizadas da arte. Mas, sério, o que poderia ser mais hipster do que querer esmagar a arte, esmagar as fronteiras que a mantêm confinada da vida cotidiana?
Aqueles anos pós-punks entre 1978 e 1984 viram um esquadrinhamento meticuloso da literatura e da arte modernistas do século 20. Todo o período do pós-punk parece uma tentativa de virtualmente replicar cada grande tema e técnica modernistas, através dos meios da música pop. Cabaret Voltaire tomou o seu nome emprestado do dadaísmo. Pere Ubu pegou-o de Alfred Jarry. Talking Heads transformou a poesia sonora de Hugo Ball numa faixa de dance tribal-disco. Gang of Four, inspirada pelos efeitos de distanciamento de Brecht ou Godard, tentou desconstruir o rock mesmo quando estava fazendo rock pra valer. Letristas absorveram a ficção científica de William S. Burroughs, J. G. Ballard e Philip K. Dick, bem como técnicas de colagem e cut-up, e as transplantaram para o mundo musical. Duchamp, mediado pelo coletivo Fluxus dos anos 1960, foi o santo padroeiro da No Wave. O trabalho de arte das capas desse período combinou as aspirações neomodernistas das letras e músicas com designers gráficos como Malcolm Garret e Peter Saville, e selos como Factory e Fast Product aproveitaram elementos do construtivismo, De Stijl, Bauhaus, John Heartfield e Die Neue Typographie. Essa pilhagem frenética dos arquivos do modernismo culminou com a fundação do selo pop renegado ZTT — abreviação para Zang Tuum Tumb, um apanhado de poesia e prosa futuristas italianas — e de seu grupo conceitual, o Art of Noise, batizado em homenagem ao manifesto por uma música futurista de Luigi Russolo.
Adotando a palavra “modernista” num sentido menos específico, as bandas pós-punks estavam firmemente comprometidas com a ideia de fazer música moderna. Elas estavam totalmente confiantes que ainda havia lugar para ir com o rock, todo um novo futuro a inventar. Para a vanguarda pós-punk, o punk havia falhado porque tentara derrubar o status quo do rock usando uma música convencional (rock´n´ roll dos anos 50, garage punk, mod) que, no final das contas, terminou rapinando megabandas jurássicas como Pink Floyd ou Led Zeppelin. Ao contrário, os pós-punks se puseram em marcha com a crença que “conteúdo radical demanda uma forma radical”.
Um subproduto curioso da convicção de que o rock´n´ roll tinha sobrevivido à sua própria pertinência foi a montanha de insultos empilhada sobre a figura de Chuck Berry. Referência chave do rock punk, através da guitarra de Johnny Thunders e Steve Jones, Berry se transformara num contraexemplo central, um nome a ser interminavelmente conjurado e evitado. Talvez o primeiro exemplo de Berryfobia tenha ocorrido tão cedo quanto a exumação do demo do Sex Pistols, The Great Rock ´n´ Roll Swindle. A banda começa fazendo um jam ao redor de “Johnny B. Goode”. A seguir, Jonnhy Rotten — o esteta no armário do grupo, que viria a dar forma à roupa arquetípica pós-punk do Public Image Ltd (PiL) — grasna a meia altura e então geme: “Ô merda, isso é péssimo, pode parar agora, puta que pariu, eu odeio isso, aaarrgh!”. O urro de Rotten, sintoma de um esgotamento repulsivo, — que soa como se estivesse sufocando, asfixiado pelo bolor do som — depois foi ecoado por montes de grupos pós-punks. Cabaret Voltaire, por exemplo, reclamava que “o rock ´n´ roll não tem nada a ver com a regurgitação dos riffs de Chuck Berry”.
Em vez de acordes de blues e com riffs, o panteão pós-punk de inovadores na guitarra favoreceu a angularidade, com uma acidez clara e irritadiça. Eles se esquivavam de solos, com exceção de breves explosões quando vinham ao primeiro plano, mas de uma maneira integrada com uma execução orientada pelo ritmo. Em vez de um som “gordo”, músicos como David Byrne dos Talking Heads, Martin Bramah do The Fall, e Viv Albertine do Slits, preferiam adotar um estilo rítmico “esbelto” na guitarra, com frequência inspirado pelo reggae ou funk. Esse estilo de guitarra mais magricela, mais compacto, que não preenchia cada canto da paisagem sonora, permitia ao baixo vir à frente deixando seu papel usualmente de apoio e mais contido, para assim tornar-se uma voz instrumental líder e ocupar uma função melódica mesmo quando estava empurrando o groove. Nesse sentido, os baixistas pós-punks brincavam de pega-pega com as inovações do Sly Stone e de James Brown, extraindo aprendizados das raízes contemporâneas do reggae e do dub. Perseguindo um som militante e agressivamente monolítico, o punk havia praticamente purgado a “negritude” do rock, seccionando as ligações da música ao R&B, enquanto simultaneamente rejeitava a disco music por ser escapista e insípida. Em 1978, contudo, o conceito de uma dance music perigosa começou a atravessar os círculos do pós-punk, exprimida em termos de uma “disco pervertida” e “avant-funk”.
Junto com a sensualidade e o molejo da dance music, o punk também havia rejeitado todos aqueles gêneros compostos (jazz rock, country rock, folk rock, rock clássico etc) que proliferaram no começo dos anos 70. Para os punks, esse tipo de coisa cheirava a um exibicionismo virtuosista, a floreios das sessões de jam, a platitudes beatas hippies do tipo “é tudo música, cara”. Definindo-se contra esse ecletismo tudo-é-válido e coxo, o punk propôs um purismo estridente. No final dos anos 70, enquanto a “fusão” permaneceu sendo uma noção desacreditada, o pós-punk inaugurou uma nova fase ao olhar para fora dos parâmetros estreitos do rock, na direção da América negra e da Jamaica, mas também da África e outras regiões que mais tarde viriam a ser chamadas de “world music”.
O pós-punk também reconstruiu pontes com o passado do próprio rock, com vastas faixas do que havia sido interditado pelo punk, que declarara 1976 ser o Ano Zero. O punk instituiu um mito que ainda persiste até hoje em algumas paragens, que o começo pré-punk dos anos 1970 tinha sido um deserto musical. Na verdade, aquele período tinha sido um dos mais ricos e mais diversificados da história do rock. Os grupos pós-punk, tateadamente no princípio (afinal, ninguém queria ser acusado de ser um roqueiro hippie ou progressista camuflado), redescobriram aquelas riquezas, tirando inspiração do final hipster do rock glam, que incluía David Bowie e a Roxy Music, e de excêntricos outsiders do rock como Captain Beefheart e, em alguns casos, do final mais agudo do rock progressivo, com Soft Machine, King Crimson, e também Frank Zappa. Num sentido, o pós-punk era rock progressivo, mas drasticamente realinhado e revigorado, com uma sensibilidade bem mais austera (sem virtuosismo ostentatório), e sem falar dos bem melhores cortes de cabelo.
A verdade é que alguns dos grupos pós-punks mais marcantes — Devo, Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire, This Heat — eram na verdade entidades pré-punks que existiam de uma forma ou de outra por diversos anos antes do álbum de estreia dos Ramones, de 1976. Quando o punk chegou, a indústria fonográfica foi lançada numa confusão, deixando os seus principais selos vulneráveis à subversão e descarte de todas as regras estéticas, de modo que ela se fechou para que nada anormal ou extremo subitamente pudesse ter uma chance. Através dessa brecha no muro do business as usual, todo tipo de freaks obscuros abriram caminho e agarraram a oportunidade por uma audiência maior.
Mas foi um tipo particular de “rock de arte” a que o pós-punk jurou lealdade: não à tentativa progressiva de mesclar guitarras elétricas com uma instrumentação clássica e uma composição ampliada do século 19, mas com a linhagem do menos-é-mais que vai desde o Velvet Underground, passando pelo Krautrock, até o final mais intelectualizado do glam, com Bowie/Roxy. Para certa ninhada de hipsters, a música que os saciou a sede durante o “deserto” dos anos 70 foi feita por um apinhado de espíritos afins — Lou Reed, John Cale, Nico, Iggy Pop, David Bowie, Brian Eno — unidos por suas descendências ou dívidas com o Velvet Underground, e que colaboraram entre si através de todo esse período segundo diferentes permutações.
David Bowie, em particular, tinha associações com praticamente todas essas pessoas em diferentes momentos, seja mediante a produção de seus discos, seja por colaborações mais esporádicas. Ele era o xamã, o maior diletante do rock, sempre à busca da próxima fronteira, sempre indo além. Mais do que qualquer outro, Bowie foi quem atuou como pedra angular do ethos pós-punk da mudança permanente. O ano de 1977 pode ter sido o ano da estreia do The Clash e do álbum Never Mind the Bollocks, do Sex Pistols, mas a verdade é que a música pós-punk estava bem mais afetada pelos quatro álbuns associados a Bowie que foram lançados naquele ano: os seus próprios Low e Heroes, e os dois de Iggy Pop que Bowie produziu, The Idiot e Lust for Life. Gravada na Berlim Ocidental, essa série impressionante de LPs impactou imensamente ouvintes que já suspeitavam que o punk rock havia se tornado apenas mais do mesmo. Os álbuns de Bowie e Iggy assinalaram o deslocamento para fora dos Estados Unidos e do rock ´n´roll, na direção da Europa e de um som modulado, fresco, esculpido sobre os ritmos “motoriks” teutônicos do Kraftwerk e Neu! — um som em que os sintetizadores tiveram um papel tão grande quanto as guitarras. Nas entrevistas, Bowie falou dessa mudança para Berlim como uma tentativa de escapar dos Estados Unidos, tanto musicalmente (em termos do soul e do funk que plasmavam o seu álbum Young Americans), quanto espiritualmente (uma fuga da decadência do rock ´n´ roll de Los Angeles). Matizado pela desejada autoalienação e deslocamento, Low estava à altura do que era o título original, New Music Night and Day, particularmente no seu impressionante lado B, uma série de atmosferas instrumentais crepusculares e puras canções enternecidas e sem palavras. Low, dizia Bowie, era uma resposta a “ter visto que o Leste Europeu, dentro do que Berlim Ocidental sobrevivia, era algo inexprimível em palavras. Em vez disso, o álbum requeria texturas”. Que é o que Bowie aprendeu com Brian Eno, o texturologista supremo, seu mentor e braço direito durante a confecção de Low e Heroes. Já influente graças ao som sintético em Roxy Music e os álbuns solo proto-No Wave, Eno, depois dos álbuns berlinenses de Bowie, se tornou um dos produtores decisivos dessa era, documentando a cena novaiorquina da No Wave e trabalhando com Devo, Talking Heads e o U2. “Algumas bandas foram à escola de arte”, pontua sagazmente Bono Vox, do U2, “nós fomos a Brian Eno”.
O novo europeísmo de Bowie e Eno concatenava-se com o sentimento pós-punk que os Estados Unidos — ou pelo menos, os Estados Unidos brancos — estavam musical e politicamente reacionários. No tocante à inspiração contemporânea, o pós-punk olhava para outros lugares que não a terra natal do rock, entre eles, a América negra urbana, a Jamaica e a Europa. Para muitos de compleição pós-punk, os singles mais significativos de 1977 não eram “White riot” ou “God Save the Queen”, mas “Trans-Europe Express”, uma trenodia metal-sobre-metal metronômica para a era industrial pela banda alemã Kraftwerk, e a pancada eurodisco por Donna Summer, “I Fell Love”, feita basicamente de sons sintéticos pelo produtor Giorgio Moroder, um italiano baseado em Munique. O disco eletrônico de Moroder e o sereno pop-sintético do Kraftwerk convocaram visões cintilantes de uma “Neu Europa” — moderna, futurista, e pristinamente pós-rock, no sentido de não manter virtualmente mais nenhuma dívida com a música americana.
Junto com a radicalização do rock por meio de doses do ritmo negro e do eletrônico europeu, os artistas pós-punks estavam igualmente comprometidos a radicalizar o conteúdo da equação musical. A abordagem do punk à política — a raiva crua ou a agitprop — parecia tosca ou proselitista demais para a vanguarda pós-punk, então eles tentaram desenvolver técnicas mais sofisticadas e oblíquas. Gang of Four e Scritti Politti abandonaram a denúncia e a desmascaração em favor de letras que dramatizavam os mecanismos do poder na vida cotidiana. “Questione tudo” era o slogan da época. Essas bandas demonstraram que “o pessoal é político” ao dissecar o consumismo, as relações de sexualidade, as noções do senso comum do que é natural ou óbvio, e os modos como o espontâneo é sentido, ou como emoções são consideradas “profundas”, não deixam de ser roteirizados por forças maiores. Ao mesmo tempo, os mais agudos dentre os grupos captaram o modo como o político é pessoal, ilustrando os processos pelo que a conjuntura e as ações do governo invadem o dia a dia e assombram os sonhos e pesadelos de cada indivíduo.
Quanto à política, no sentido usualmente dado ao termo — o mundo das manifestações, da militância de base, do ativismo social, da luta organizada — as bandas pós-punks eram mais ambivalentes. Como inconformistas boêmios, eles geralmente ficavam desconfortáveis ante chamados à solidariedade ou a seguir a linha do partido. Atribuíam uma demagogia rasteira aos músicos ostensivamente políticos da era (como o Crass e Tom Robinson) e suas músicas literais demais e inestéticas, além de achar seus palanques sermonizantes, demasiado condescendentes e, na maioria do tempo, um exercício inútil de “pregar aos convertidos”. Então, enquanto muitos grupos pós-punks britânicos participaram dos festivais e turnês do Rock against Racism, eles permaneceram cautelosos em relação a isso e a sua organização gêmea, a esquerda militante do Partido Socialista dos Trabalhadores, que valorizava a música unicamente como um instrumento para radicalizar e mobilizar a juventude. Ao mesmo tempo, o pós-punk herdou os sonhos de ressuscitar o rock como força da mudança, senão do mundo, pelo menos da consciência de seus ouvintes. Mas em vez da música servir de plataforma neutra para a agitprop, esse radicalismo se manifestava igualmente nas letras e sons. Além disso, o potencial subversivo das letras residia em igual medida em suas propriedades formais estéticas (o quão inovadoras elas eram no nível da linguagem ou narrativa) e na mensagem ou crítica que elas traziam.
O pós-punk foi um período de experimentação impressionante em termos de letras e canto. Mark E. Smith, do The Fall, inventou um tipo de realismo mágico da Inglaterra setentrional, que misturava a fuligem industrial com o sobrenatural e o sinistro, tudo vocalizado por meio de uma combinação singular e monocórdia, algo entre uma oratória anfetamínica e apiciforme, e uma longa narração pouco verossímil e aborrecidamente embriagada. Os maneirismos afobados e neuróticos de David Byrne serviram perfeitamente para a examinação seca, retorcida, de assuntos geralmente não abordados pelo rock: os animais, a burocracia, “construções e comida”. Mark Stewart, do Pop Group, murmurava encantamentos imagéticos como uma cruz entre Artaud e James Brown. Este também foi um período fértil para a expressão idiossincrática da mulher, para as até então desconhecidas perspectivas e tons dissonantes do Slits, de Lydia Lunch, Ludus e os Raincoats. Outros letristas cantores — Ian Curtis do Joy Division, Paul Haig do Josef K — estavam embebidos da inquietação sombria e da ansiedade obsedante de Dostoievski, Kafka, Conrad e Beckett. Minirromances em três minutos, as suas músicas se engalfinhavam em dilemas existenciais: a luta e a agonia de ter um “self”; amor versus isolamento; o absurdo de existir; a capacidade humana de perversidade e rancor; a perene pergunta: “suicídio, por que raios não?”.
Envolvendo-se com esses aspectos intemporais da condição humana, o pós-punk também deu um tapinha no Zeitgeist político. Especialmente, durante os três anos entre 1978 e 1980, os deslocamentos causados pela mudança econômica e a convulsão geopolítica geraram um tremendo senso de pavor e tensão. O Reino Unido assistiu à ressurgência da extrema-direita e de partidos fascistas, tanto na política eleitoral, quanto na forma sangrenta da violência nas ruas. A Guerra Fria atingira um novo pico de frigidez. A revista de música que era líder no Reino Unido, New Music Express, publicou uma coluna regular chamada “Plutonium Blondes”, sobre a instalação de mísseis nucleares de cruzeiro americanos no país. Singles como “Breathing”, de Kate Bush, e “The Earth Dies Screaming”, do UB40, trouxeram a ansiedade nuclear para as listas de Top 20, e incontáveis pós-punks, desde o The Heat e o seu álbum conceito “Deceit”, até os Young Marble Giants, com seu single clássico “Final Day”, cantaram o Armageddon como uma perspectiva real e iminente.
Parte da pungência desse período de música dissidente estava em sua relação cada vez mais assincrônica com a cultura mais ampla, que estava virando à Direita. O período pós-punk começou em meio à paralisia de uma política de esquerda frustrada e cheia de bandeiras, sob os governos de centro-esquerda do primeiro-ministro trabalhista Jim Callaghan, no Reino Unido, e do presidente Jimmy Carter, nos EUA. Callaghan e Carter quase simultaneamente cederam o lugar a Margaret Thatcher e Ronald Reagan, líderes populistas e populares da direita, que promoveram políticas econômicas monetaristas resultando em desemprego em massa e no aprofundamento das desigualdades.
Inaugurando um longo período de políticas conservadoras que durou doze anos nos Estados Unidos e dezesseis no Reino Unido, Thatcher e Reagan representaram um retorno de chama gigante em relação à contracultura sessentoitista e aos permissivos anos 70. Em resposta, o pós-punk tentou construir uma cultura alternativa com as suas próprias infraestruturas autônomas de selos, circuitos de distribuição e lojas de discos. A necessidade de um “controle completo” (que o Clash somente pôde cantar amargamente na música homônima para a seguir cedê-la à CBS) levou ao nascimento de selos independentes e pioneiros, como o Rough Trade, Mute, Factory, Subterranean e SST. Esse conceito faça-você-mesmo (do it yourself, DIY) proliferou como um vírus, desovando uma pandêmica cultura samizdata, com bandas lançando os seus próprios discos, promoters locais organizando shows, coletivos musicais criando espaços para as bandas tocarem, e pequenas revistas e fanzines assumindo o papel de uma mídia alternativa. Selos independentes representaram um tipo de microcapitalismo antiempresarial baseado menos na ideologia de esquerda do que na convicção de que os principais selos eram muito preguiçosos, sem imaginação e orientados exclusivamente para o comércio, não sendo capazes de bancar a música mais crucial de seu tempo.
O pós-punk estava preocupado com a própria política da música tanto quanto com qualquer outro assunto do “mundo real”. Ele pretendeu sabotar a fábrica de sonhos do rock, a indústria do lazer que canalizava a energia e o idealismo da juventude num beco sem saída cultural, enquanto produzia quantidades enormes de lucro para o capitalismo empresarial. Cunhado pelo grupo de Liverpool, Wah Heat!, o termo “roquismo” se espalhou como uma abreviação para todo um conjunto de rotinas mesmerizantes que restringiam a criatividade e suprimiam a possibilidade da surpresa. Os modos estabelecidos de fazer as coisas que os pós-punks recusavam perpetuar variavam desde convenções produtivas (como o uso da ressonância para dar aos discos um som bate estaca) até rituais previsíveis de realizar turnês e performances (algumas bandas pós-punks se recusavam a fazer o bis, enquanto outras experimentavam com arte performática e multimídia). Buscando romper o transe do rock business-as-usual e chacoalhar o ouvinte até um estado de prontidão constante, o pós-punk fez legião com os críticos e os seus minimanifestos metamusicais, para produzir canções como “Part Time Punks” do “Television Personalities”, ou “A Different Story” do Subway Sect, que abordavam o fracasso do punk ou especulavam a respeito do futuro. Algumas dessas mais agudas tomadas de consciência vieram da sensibilidade radicalmente autocrítica que circundava a arte conceitual dos anos 1970, em que o discurso ao redor do processo do produzir era tão importante quanto o objeto produzido de arte em si próprio.
A natureza metamusical de boa parte do pós-punk ajuda a explicar a força extraordinária da imprensa de rock durante esse período, com alguns críticos realmente participando da moldagem e direção do processo cultural. O papel ampliado para as publicações sobre música tinha começado já com o punk. Porque a TV e a rádio dominantes amplamente repeliam o punk, porque a grande imprensa lhes era em regra hostil, e porque por um tempo foi difícil para as bandas até mesmo conseguir realizar shows, por tudo isso, as publicações sobre música — New Music Express (NME), Sounds, Melody Maker e Record Mirror — assumiram uma importância enorme. De 1978 a 1981, a líder do mercado, a NME, tinha uma tiragem que flutuava entre 200 mil e 270 mil exemplares, e um público leitor real com três ou quatro vezes esse tamanho. O punk mobilizou uma audiência imensa e que estava buscando um jeito de seguir adiante, pronta para ser acompanhada. E a imprensa musical não tinha virtualmente qualquer rival nessa tarefa. Revistas de interesse geral como a Q ou estilosas, como a Face, ainda não existiam com periodicidade mensal, e a cobertura pop de qualidade nos jornais era muito escassa.
Como resultado, a imprensa musical conquistou uma enorme influência, e escritores individuais — os guias, aqueles com complexo messiânico — gozaram de um prestígio e um poder que hoje seriam inimagináveis. Ao identificar (e exagerar) as ligações entre os grupos e articular os manifestos não-escritos dos movimentos incipientes e das cenas baseadas na cidade, os críticos conseguiam verdadeiramente intensificar e acelerar o desenvolvimento da música pós-punk. Em Sounds, do final de 1977 em diante, Jon Savage foi o campeão da “New Musick”, o lado ficção científica industrial/distópico do pós-punk. Paul Morley, na NME, foi da mitologização de Manchester e do Joy Division ao sonho do conceito do New Pop, até finalmente ir ajudar a inventar grupos como o Frankie Goes to Hollywood e o Art of Noise. Garry Blushell, do Sounds, era o ideólogo do Oi!. Essa combinação de críticos ativistas e músicos cujo trabalho era uma forma de “crítica ativa” foi o combustível para uma síndrome da evolução por meio da fuga. Tendência competia com tendência, e a cada novo desenvolvimento se seguia rapidamente um retorno de chama ou uma torção. Tudo isso contribuiu para o sentimento de urgência na direção do futuro tão característico do período, enquanto ao mesmo tempo acelerou a desintegração da unidade do punk nas disputas facciosas do pós-punk.
Músicos e jornalistas confraternizaram um bocado durante o período, uma afinidade relacionada talvez ao senso de solidariedade entre camaradas da guerra cultural do pós-punk contra a Old Wave, como também de solidariedade de agenda política. Os papéis se alternavam entre eles. Alguns jornalistas tocavam em bandas ou faziam discos, e havia músicos que escreveram críticas,como David Thomas do Pere Ubu (sob o pseudônimo Crocus Behemoth), Steven Morris do Joy Division e Steve Walsh do Manicured Noise. Porque tantas pessoas envolvidas no pós-punk eram inicialmente não-músicos ou tinham vindo de outros campos artísticos, a lacuna entre aqueles que “faziam” e aqueles que comentavam não era tão larga quanto na era pré-punk. Genesis P-Orridge do Throbbing Gristle, por exemplo, se definia primeiro e sobretudo como escritor e pensador, de modo algum como músico. Ela chegou até mesmo a usar a palavra “jornalista” num sentido positivo, ao descrever a abordagem documental do Throbbing Gristle em relação às ásperas realidades pós-industriais.
Mudanças no estilo e nos métodos da escrita de rock aumentaram a sensação pós-punk de arremessar-se violentamente numa nova e ousada era. Jornalistas musicais do começo dos anos 70 tipicamente misturavam qualidades críticas tradicionais (objetividade, relatos sólidos, conhecimento autorizado) com um Novo Jornalismo, para influenciar um humor informal e relaxado adequado ao rock ´n´ roll. Mas esse estilo túrgido e tagarela — espremido entre “aint´s”, gírias e uma panóplia de referências astutas e brilhantes — não combinava com o pós-punk. Os pilares intelectuais dessa crítica de rock mais antiga — noções de mau comportamento masculino nos termos de rebeldia, loucura e gênio, o culto da autenticidade e confiabilidade das ruas — eram algumas das coisas que estavam exatamente sendo colocadas em escrutínio e desafiadas pela mais nova vanguarda anti-rock. Uma nova geração de jornalistas musicais assumiu o lugar daqueles cuja escrita parecia ser feita da mesma matéria que as músicas ao lado das quais eles se apresentavam como campeões. As linhas diretas, decididas e urgentes de sua prosa espelhavam a severidade levemente metálica de grupos como os Banshees, Wire e Gang of Four, assim como a estética do design dos discos do tempo enfatizava uma geometria tonificante e ousada, com ângulos duros e blocos de cores primárias. A nova escola de escrita musical mesclou o puritanismo e a brincadeira de um modo que simultaneamente cortou pelo caule o tom casual do velho jornalismo de rock e perfurou o seu núcleo entulhado de certezas, todos os seus pressupostos escondidos e as suas verdades absolutas sobre o que estava verdadeiramente em jogo no rock.
Sobre o que as bandas e os jornalistas realmente falavam também contribuiu para o sentimento de estar entrando numa nova era. Uma entrevista com uma banda de rock hoje tende a tornar-se uma lista de lavanderia com influências musicais e anotações de referência, a tal ponto que a história da vida de uma banda tipicamente acaba sendo reduzida a uma viagem através do gosto musical. Esse tipo de “coleção de discos de rock” não existia na era do pós-punk. As bandas se referiam a suas inspirações musicais, claro, mas elas também tinham muito mais coisas — política, cinema, arte, livros — em mente. Algumas das bandas politicamente comprometidas realmente sentiram que era puro autocomprazimento ou trivialidade ficar falando da música através da música, da música por si. Ao contrário, elas sentiram-se ligadas à responsabilidade de discutir assuntos sérios, o que hoje soaria um pouco samaritano, mas que naquele tempo reforçava o senso que o pop não era uma categoria insulada do restante da realidade. A falta de interesse em discutir influências musicais também criou um senso que o pós-punk era uma ruptura absoluta com a tradição. Era como se os olhos e os ouvidos da cultura estivessem treinados para o futuro, não o passado, com bandas se engajando numa competição furiosa para atingir os anos 80 um pouco antes do previsto.
Devotado a uma missão e inteiramente fincado no presente, o pós-punk criou um sentido vibrante de urgência. Os novos discos chegavam espessos e velozes, um clássico após o outro. Mesmo os experimentos inconcluídos e os interessantes fracassos estavam eletrizados de uma poderosa carga de utopia e contribuíam para uma conversação coletiva emocionante. Certos grupos existiram mais no nível da ideia do que de uma proposição realizada, mas de qualquer modo fizeram a diferença apenas por existir e dar o seu recado na imprensa.
Muitos grupos nascidos no período pós-punk viriam a gozar de uma fama imensa no mainstream: New Order, Depeche Mode, Human League, U2, Talking Heads, Scritti Politti e Simple Minds. Outros foram menores ou figuras de bastidor e viriam a conquistar um sucesso somente mais tarde e noutros termos, como Bjork, KLF, Beastie Boys, Jane´s Addiction e Sonic Youth. Mas a história do pós-punk definitivamente não foi escrita pelos vencedores. Existem dezenas de bandas que fizeram álbuns que foram genuínos marcos, mas que nunca atingiram mais do que o status de um culto duradouro, auferindo o duvidoso prêmio de consolação de terem sido influência e ponto de referência para as megabandas alt-rock dos anos 90 (Gang of Four nutriu Red Hot Chili Peppers, Throbbing Gristle amamentou Nine Inch Nails, e Talking Heads chegou até mesmo a suprir o Radiohead com o nome). Centenas de outras fizeram um ou dois singles inspirados para logo depois desaparecer sem quase deixar rastro.
Além dos músicos, havia todo um rol de catalisadores e guerreiros culturais, facilitadores e ideólogos que começaram bandas, geriram selos, se tornaram produtores inovadores, publicaram fanzines, tocaram lojas de disco hipsters, promoveram shows e organizaram festivais. De fato, o trabalho prosaico de criar e manter uma cultura alternativa não tinha o glamour dos gestos públicos do punk de ódio e terrorismo cultural. Destruir é sempre mais dramático do que construir. Pois o pós-punk era construtivo e olhava para a frente. O próprio prefixo “pós-” implicava uma fé no futuro que o punk dizia não existir.
A instância de simples negação do punk, de ser contra, rapidamente cimentou uma unidade. Mas tão logo a questão se deslocou para “Do que efetivamente nós somos a favor?”, o movimento se dispersou e se despedaçou. Cada vertente nutriu o seu próprio mito de origem sobre o que o punk significava e perseguiu sua própria visão de como ir em frente. Ainda assim, por debaixo da irascível diáspora dos anos pós-punks, ainda subjazia um legado comum vindo dos anos punks, em especial, a revivida crença no poder da música, junto com o sentimento de responsabilidade que vinha com essa convicção. Esta, por sua vez, tornava a questão “Aonde ir agora?” algo pelo que valia a pena lutar. O subproduto de todo esse divisionismo e desacordo foi a diversidade, uma riqueza fabulosa de sons e ideias que rivaliza com os anos 60 como era dourada da música.
—